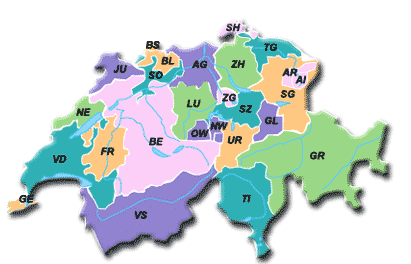José Horta Manzano
Quando, em 1830, os franceses se apossaram do território norte-africano que hoje se chama Argélia, estavam selando o destino da França. Ad vitam æternam.
Quando, a partir do século XVI, os brasileiros(*) e outros plantadores de cana decidiram ir buscar mão de obra gratuita na África, estavam selando o destino do Brasil. Ad vitam æternam.
A independência da Argélia, reconhecida em 1962, provocou uma descolonização a toque de caixa. Um milhão de franceses oriundos da metrópole tiveram de ser repatriados em regime de urgência, deixando para trás tudo o que possuíam.
Essa chegada súbita e maciça dos retornados não teve grande impacto na metrópole. Os anos 60, 70 e 80 foram, na Europa ocidental, décadas de prosperidade. Fechavam-se as últimas cicatrizes da guerra e construía-se e reconstruía-se em ritmo acelerado. Centrais nucleares, aviões supersônicos, construção civil, estradas ― tudo isso exigia mão de obra.
Grandes contingentes de norte-africanos, especialmente argelinos, foram trazidos. Faziam o trabalho mais humilde, justamente aquele que os franceses não queriam mais fazer.
Embora fossem remunerados ― uma situação bem diferente da dos africanos levados à força para o Brasil ―, foram propositadamente apartados do resto da população. Grandes conjuntos de imóveis especialmente destinados aos imigrantes argelinos, tunisinos e marroquinos foram construídos na periferia das cidades.
Cada conjunto dispunha de comércio de base, como as superquadras da Brasília dos anos 60. A intenção era conter os novos imigrantes dentro do espaço que lhes era destinado, concentrá-los, coibir sua interpenetração com a boa sociedade. Os conjuntos habitacionais exerciam ― exercem até hoje ― o papel da senzala conhecida dos brasileiros. Todos juntos, sim, mas… vocês lá e nós cá.
A vida dá voltas. O boom dos anos dourados arrefeceu. Os descendentes de imigrantes progrediram. Se alguns, é verdade, descambaram para a criminalidade, a droga e outros tráficos, muitos seguiram trilha melhor. Estudaram, se esforçaram, não se conformaram em continuar no baixo patamar social em que haviam nascido.
Abandonados à própria sorte, os habitantes dessas cités não têm a vida fácil. Estigmatizados pela cor de sua pele, pelo aspecto físico ou pelo sobrenome, às vezes até pelo prenome que denota origem norte-africana, são usados, especialmente por partidos de extrema direita, como bodes expiatórios. Todos os males nacionais lhes são atribuídos.
Costuma-se dizer que, entre dois currículos de categoria semelhante, um dos quais tenha sido mandado pelo candidato Mohamed Sahraoui enquanto o outro esteja louvando as qualidades de Jean Martin, o selecionador tenderá a preferir Jean. Talvez nem mesmo chegue a propor entrevista a Mohamed.
Para remediar esse problema, tem-se falado com muita insistência em instituir currículos anônimos. Sem se deixar influenciar por preconceitos de origem étnica, o selecionador julgaria os méritos e as qualidades de seus candidatos e chamaria para entrevista os que lhe parecessem convir. Se o sistema ainda não foi adotado, é por dificuldades práticas. Mais dia, menos dia, será instituído.
Um editorial do Estadão de domingo 5 de maio nos traz uma boa análise de uma inacreditável situação. O perfil que cada pesquisador mantém no incontornável Currículo Lattes, verdadeira instituição conhecida por todos os cientistas brasileiros e respeitada por todos eles, deverá obrigatoriamente trazer a raça ou a cor de pele de cada acadêmico(!).
Se não tivesse saído no Estadão, seria de duvidar da veracidade da história. Com que então, os que vêm tomando essas decisões estes últimos tempos acreditam mesmo que a melhor maneira de atenuar preconceito racial é oficializar a compartimentação dos cidadãos em etnias distintas e conferir a cada uma direitos diferentes das demais? Combate-se uma discriminação lançando mão de outra? Para compensar os maus tratos de que foram vítima os tataravós de certos cidadãos, discriminam-se os tataranetos dos algozes de séculos atrás? Tudo isso atropela o bom-senso.
Mas o mundo gira. Por mais que isso atrapalhe os planos dos racistas brasileiros ― que preferem pudicamente ser chamados de racialistas ― a miscigenação da população continuará. Dentro de muito pouco tempo, não brancos (pretos e pardos) serão maioria, se é que isso já não aconteceu. E aí, como ficamos? Estabeleceremos quotas para a minoria eurodescendente?
Ao invés de olhar para o próprio umbigo e dar tiros em seu próprio pé, esses novos racistas deveriam estudar soluções encontradas por outros países que enfrentam o mesmo problema. Não basta ir a Paris só para subir à Tour Eiffel e assistir a um espetáculo no Moulin Rouge. Há que aproveitar para aprender com a experiência dos outros.
Um pouco de humildade não faz mal a ninguém.
.
(*) O termo brasileiros é utilizado aqui na sua acepção original de comerciantes de pau-brasil.