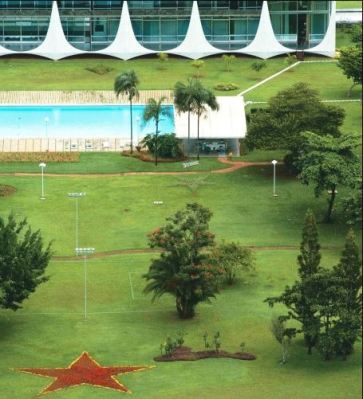José Horta Manzano
Na Suíça, vigora um sistema original de democracia. Dois métodos correm paralelos, ambos destinados à manifestação da vontade popular.
Do lado tradicional do sistema, estão os representantes do povo, deputados e senadores, eleitos pelo voto universal e secreto, com mandato fixo – como em qualquer democracia que se preze.
Por outro lado, menos comum em outras partes do mundo, o método plebiscitário é muito utilizado. Embora a possibilidade também seja prevista pela Constituição de outros países (inclusive a nossa), é raramente utilizada. Não é o caso da Suíça, país onde qualquer cidadão (ou grupo de cidadãos) pode lançar uma coleta de assinaturas, conhecida como “iniciativa popular”. O objetivo é reunir um determinado número de cidadãos que, com sua assinatura, confirmam estar de acordo com a matéria proposta.
Para ser válida, a iniciativa não pode entrar em colisão com a Constituição. Portanto, antes de lançá-la, seu texto será submetido à autoridade competente para análise. Uma vez considerada constitucional, é liberada. A coleta de assinaturas pode ser iniciada e deverá estar terminada dentro do prazo estipulado. Há diferentes modalidades de iniciativa, cada qual com um determinado número de assinaturas necessárias.
Uma vez obtido o número mínimo de assinaturas dentro do prazo, as pilhas de documentos são entregues ao departamento encarregado de validá-las. Cada assinatura será conferida. Se as regras tiverem sido respeitadas e o número de assinaturas válidas tiver sido alcançado dentro do prazo fixado, o governo marcará a data do voto popular.
É um dos aspectos que integram a chamada democracia direta. Em média, o povo suíço vota quatro vezes por ano. O voto não é obrigatório. Cada votação pode reunir duas, três ou mais iniciativas. O eleitor dará sua opinião sobre cada uma delas. Tanto podem ser de âmbito municipal, cantonal ou federal.
Assim mesmo, apesar de já ter esses amplos meios de exprimir sua vontade, a população ainda conta com a possibilidade de manifestar seus desejos (ou, mais frequentemente, suas contrariedades) por meio de passeatas e manifestações ao ar livre. (“Carreatas” ainda não estão na moda aqui. E muito menos “motociclatas”.)
Passeatas, há muitas. Nessas horas, o importante não costuma ser a vestimenta dos manifestantes, mas os slogans escandidos e, principalmente, os cartazes brandidos. O que vai aparecer na mídia e na tevê são justamente os cartazes, a palavra escrita. Vê-se gente vestida de preto, branco, azul, vermelho, amarelo, cor-de-rosa, e quantas mais cores houver. Não há código vestimentar. A mensagem não está na cor da roupa, mas na palavra gritada ou escrita.
É estranho que, nas manifestações de rua do Brasil deste começo de século, a vestimenta fale mais alto que as palavras. Às vezes, penso que essa bizarrice se deve à falta de argumentos – quem não tem o que dizer, veste-se de determinado modo como marca de identificação tribal. Mas posso estar enganado.
Nos tempos do lulopetismo, vinham todos de vermelho. Até o Lula e os acólitos. Vermelho, por acaso, é a cor preferida deste blogueiro, mas isso não vem ao caso; já gostava dessa cor antes que o PT existisse. Agora, desde que o capitão assinou contrato de locação no Palácio do Planalto, a cor dos desfilantes mudou: vêm todos de verde-amarelo.
Quando de grandes movimentos do passado, como as Diretas Já e as Marchas de 1964, o povo não vinha fantasiado. As convicções, boas ou más, estavam dentro das gentes e vinham expressas em cartazes. Por que mudou?
Lula e Bolsonaro são do tipo cabeça-dura. Não lhes viria à ideia sugerir a seus devotos que variassem a cor da indumentária. Então, aproveito a deixa para dizer o que penso. Acho que tanto um lado quanto o outro ganhariam se maneirassem no uso do vermelho, por um lado, e do verde-amarelo, por outro. Do jeito que está, fica caricato. Passa a ideia de rebanho domesticado e amestrado, o que não pega bem pra ninguém.
Dado que as manifestações de rua são marcadas com antecedência e amplamente divulgadas, todos sabem se o desfile é a favor deste ou contra aquele. Por que as cores, então? Fosse eu, daria aos apoiadores instruções para que cada um viesse vestido da cor que mais lhe agrada. Não está escrito em lugar nenhum que esquerdista tem de se vestir obrigatoriamente de vermelho, nem que um neofascista deve usar roupa amarela.
Está ficando ridículo para ambos os lados. Um desfile com um bando de vermelhinhos lembra mais um reclamo de outras eras, de um tempo em que crianças trabalhavam em fábricas e mulheres não tinham o direito de voto. Um desfile com um bando de verde-amarelinhos lembra mais um circo, em que alguns parecem proteger-se enrolados numa bandeira brasileira, como se tivessem medo de sermos invadidos pela Bolívia.
Vamos! Coragem, minha gente! O importante são as ideias e, principalmente, as palavras. A vestimenta não voga.
 (*) De que cô qué?
(*) De que cô qué?
Devo uma explicação sobre o título deste artigo. Este blogueiro, que teve avó mineira de Mariana, se lembra de piadas que deviam parecer muito engraçadas no século 19. Hoje, não tenho certeza de que fariam tanto sucesso. A bizarrice da cega preferência que os manifestantes de hoje demonstram por esta ou aquela cor me lembrou uma delas.
Na empoeirada cidadezinha do interior, um cliente entra na loja de armarinhos e pede um corte de tecido.
Balconista:
– De que cô qué?
Cliente:
– De caqué cô.