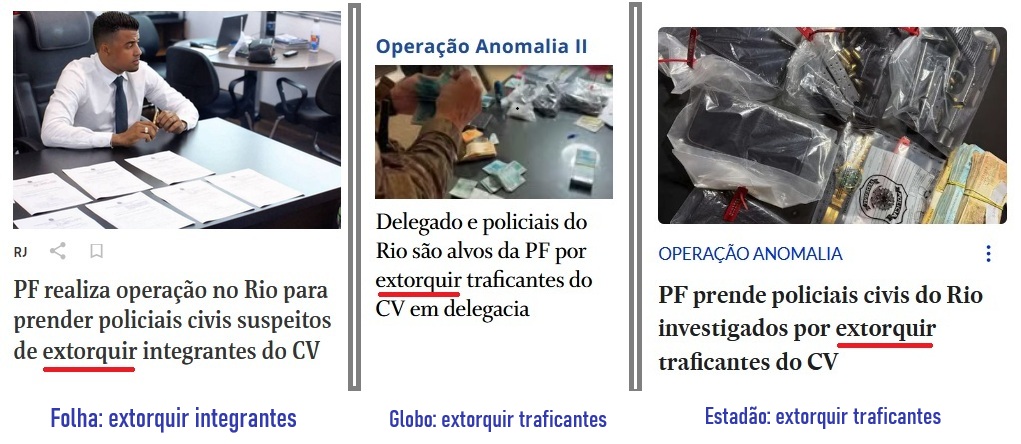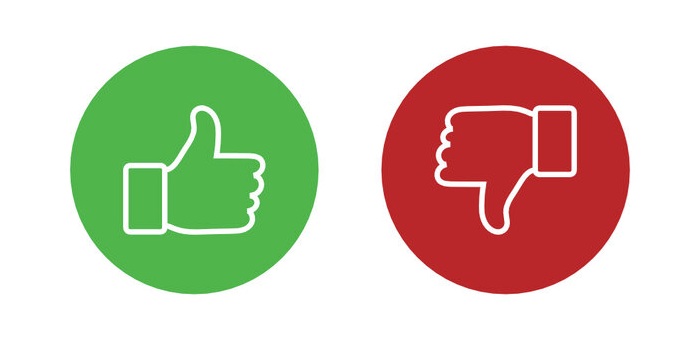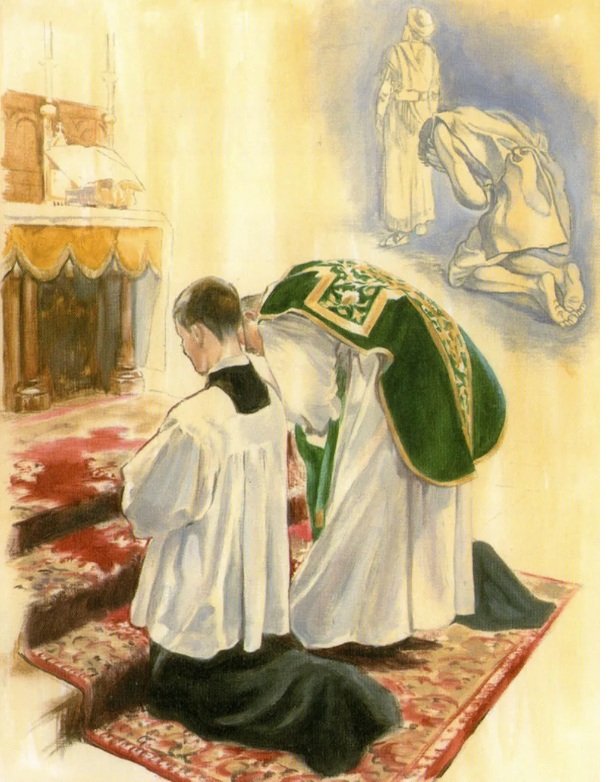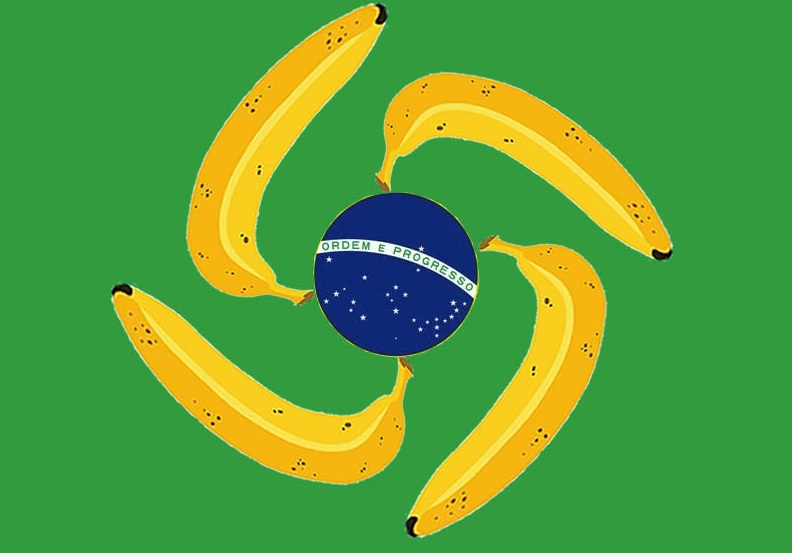Só quem tem por volta de 80 primaveras, daí pra mais, pode se lembrar de um fait divers que chocou o Brasil em julho de 1958. Era uma época em que escândalos costumavam ocorrer e morrer entre quatro paredes sem que ninguém ficasse sabendo.
Mãe solteira, por exemplo, havia menos que hoje. Uma vez a moça engravidada, o normal é que terminasse em casamento, de bom grado ou à força. E era bom que fosse rápido, antes que o vestido começasse a encurtar.
Era um Brasil mais pobre, mais apegado a imposições da Igreja, talvez mais hipócrita que atualmente. Se era melhor ou pior que hoje? Tudo é relativo, mas uma coisa é certa: a solidariedade, que a pobreza favorece, estava mais presente. A família era ampla e incluía numerosos irmãos e irmãs, primos, tios e tias, agregados, padrinhos. Essa roda de gente era um ponto positivo, mas, ao mesmo tempo, o controle social exercido por esse largo círculo era forte, nem sempre fácil de suportar.
Foi nesse ambiente que se armou o drama de 1958, no bairro de Copacabana, Rio de Janeiro. Aída era uma jovem de 18 anos, ingênua e virgem como convinha naquele tempo. Num fim de tarde, voltando a pé da escola para casa, foi abordada por dois ou três rapazes do tipo “filhos de papai”, que se distinguiam pelo blusão de couro e óculos usados de dia e de noite, com lentes em geral escuras, armação preta espessa. O protótipo de como se imaginava a terrível ‘juventude transviada’.
O mais afoito chamava-se Ronaldo. Convidou-a para uma visitinha num apartamento situado no prédio ali ao lado. Aída recusou e fez menção de ir embora. Para impedi-la de partir, o rapaz tirou-lhe das mãos um objeto e saiu andando na direção do tal prédio. Aída, que precisava do tal objeto, não teve outro remédio se não seguir o moço, implorando-lhe de devolver o que tinha roubado. Uma vez passada a porta de entrada do edifício, auxiliados pelo porteiro (que era cúmplice do estratagema), subiram todos à laje superior, localizada na altura do 12° andar.
A sequência dos acontecimentos, quem nos fornece é a polícia do então Distrito Federal. Horas mais tarde, um corpo de mulher semidespida foi encontrado na calçada, jazendo numa poça de sangue. A moça era Aída. Chamada para constatações, a polícia científica concluiu que a jovem tinha sido primeiro currada(1), em seguida atirada da mureta da laje, no 12° andar. A marca do solado de suas sandálias ao longo do muro exterior do edifício excluía a hipótese de Aída ter dado um salto voluntário.
Seguiram-se processo, recurso, novo processo. David Nasser, conhecido jornalista, utilizou o espaço de que dispunha semanalmente na revista O Cruzeiro – a de maior circulação no país – para acusar o ‘playboy’ Ronaldo e seu comparsa, com argumentos, provas, evidências, testemunhos. Todo o poder da comunicação foi utilizado em favor da memória da infeliz vítima. O libelo durou semanas e meses. Não adiantou.
A mentalidade do Brasil de 70 anos atrás ainda estava longe de desabrochar. Assuntos como esse tinham sempre o mesmo pré-julgamento popular: em casos de estupro, a mulher era sistematicamente culpada. Se ela subiu ao 12° andar com os rapazes, foi porque quis. Afinal, tinha 18 anos e devia saber o que estava fazendo. Os curradores foram condenados por atentado violento ao pudor, mas foram absolvidos da pior acusação, a de homicído.
Estes dias, lembrei muito desse caso. O que aconteceu algumas semanas atrás, na mesma Copacabana, quando uma jovem da idade de Aída foi atraída para uma emboscada e currada por quatro bostinhas, guarda certa semelhança com o caso de 1958. Muito felizmente, o caso não terminou em homicídio. Acabou com os quatro criminosos marchando calmos em direção ao elevador, burocraticamente consultando mensagens e notificações ao celular.
Por enquanto, estão na cadeia. Em vez de blusão de couro, vestem bermudão. Em vez de botinas lustradas, calçam chinelo de dedo. Em vez de óculos de sol, abrem os olhos descaradamente, como se dissessem: “E aí, vai encarar?”.
Um dia, serão julgados. A sentença demonstrará se as peripécias que nosso país atravessou nesses 70 anos terão valido a pena. A mansuetude dos juízes para com esses rebentos, nascidos bem mas criados mal, continuará a mesma de 1958?
Currada(1)
Particípio passado do verbo currar. É termo que entrou em obsolescência, segundo o Houaiss. Até pouco tempo atrás, era usado para descrever o que hoje se diz “estupro coletivo”, um atentado ao pudor feminino cometido por uma associação de dois ou mais criminosos, com uso de coerção e violência.
A palavra currar não era tabuísmo, antes, podia ser pronunciada diante de senhoras. Talvez o receio de que pudesse ser percebida como vulgar seja responsável por sua substituição por “estupro coletivo”, expressão cujo som despretensioso parece diluir a culpa do ato abominável entre os diversos participantes.