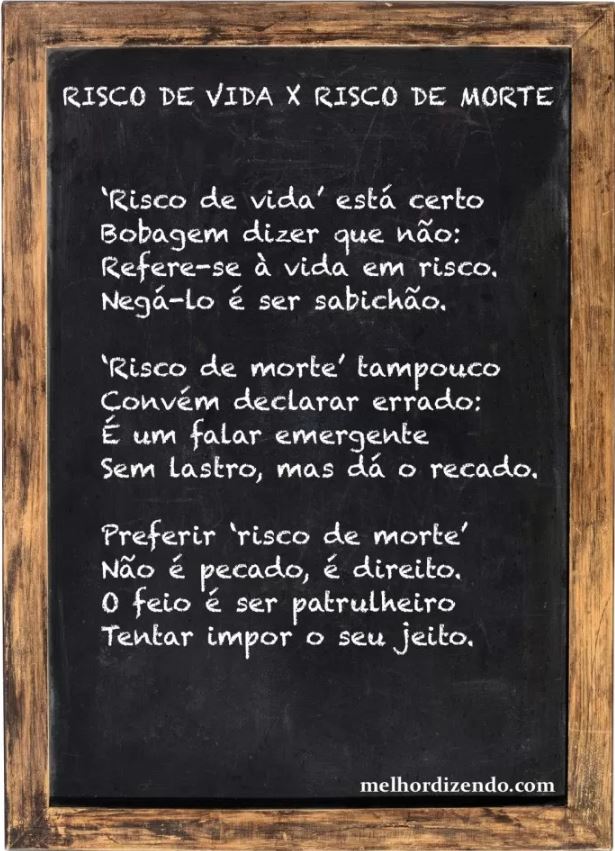Myrthes Suplicy Vieira (*)
Amigo é aquele que…
Nem se dê ao trabalho de completar a frase, identificando as qualidades que você espera encontrar numa pessoa para fazer dela um amigo. Amigos não são escolhidos pela razão, não atendem a pré-requisitos. Eleitos pela alma, podem ser encontrados em diferentes formatos, tamanhos, cores e estilos. Não são fabricados em série, só podem ser confeccionados artesanalmente, cozidos em fogo brando e moldados de forma customizada. E, a cada vez que ganhamos um, novas surpresas e encantamentos nos esperam ao abrirmos a caixa.
Todos vêm com uma advertência clara já na própria embalagem: Atenção, este produto não contém promessa de concordância eterna e incondicional. Necessário explorar todas as características incorporadas de fábrica antes de julgar sua adequação. Não serão aceitos pedidos de devolução ou substituição por quebra caso fique comprovado que eventuais disfunções se deveram a mau uso.
 Amizade não é resultado desejado. É um longo processo bilateral de ajuste, de um paciente aparar de arestas e de um corajoso desejo de contornar todos os obstáculos do caminho. Além da disposição de recomeçar sempre, é claro. A parte mais difícil de uma relação fraterna como essa é, sem sombra de dúvida, a que diz respeito à revisão e atualização das imagens um do outro. Muitas vezes nos prendemos nostalgicamente à configuração que a relação tinha em seu início, impedindo que ela floresça e frutifique como e quando quiser. Amizade é semente frágil que necessita de terreno anímico apropriado para prosperar e de muito sol de propósitos em comum para desabrochar em todo o esplendor de sua beleza.
Amizade não é resultado desejado. É um longo processo bilateral de ajuste, de um paciente aparar de arestas e de um corajoso desejo de contornar todos os obstáculos do caminho. Além da disposição de recomeçar sempre, é claro. A parte mais difícil de uma relação fraterna como essa é, sem sombra de dúvida, a que diz respeito à revisão e atualização das imagens um do outro. Muitas vezes nos prendemos nostalgicamente à configuração que a relação tinha em seu início, impedindo que ela floresça e frutifique como e quando quiser. Amizade é semente frágil que necessita de terreno anímico apropriado para prosperar e de muito sol de propósitos em comum para desabrochar em todo o esplendor de sua beleza.
Há uma canção de Jacques Brel que ilustra com perfeição o que quero dizer. Despedindo-se de um amigo que acabou de morrer, ele diz a certa altura: “On n´était pas du même bord mais on cherchait le même port”. De fato, para mim nunca foi preciso estar na mesma margem, o que sempre me importou foi o prazer de navegar e torcer para que os ventos nos empurrassem para o mesmo porto de destino.
 Aviso aos navegantes: meu conceito pessoal de amizade é radicalmente diferente do comumente encontrado nas redes sociais hoje em dia. Não é uma categoria abrangente dentro da qual podem ser alocadas todas as pessoas que cruzaram meu caminho em algum momento. Talvez por falta de palavra melhor para designar uma relação que é mais do que simples coleguismo de escola ou de trabalho, concordamos em apresentar a pessoa como “amiga”. Pode ser um bom recurso para transmitir a ideia de que ela é de confiança, mas sempre faltará a essa descrição um elemento fundamental: o da intimidade testada e aprovada pelo tempo.
Aviso aos navegantes: meu conceito pessoal de amizade é radicalmente diferente do comumente encontrado nas redes sociais hoje em dia. Não é uma categoria abrangente dentro da qual podem ser alocadas todas as pessoas que cruzaram meu caminho em algum momento. Talvez por falta de palavra melhor para designar uma relação que é mais do que simples coleguismo de escola ou de trabalho, concordamos em apresentar a pessoa como “amiga”. Pode ser um bom recurso para transmitir a ideia de que ela é de confiança, mas sempre faltará a essa descrição um elemento fundamental: o da intimidade testada e aprovada pelo tempo.
Também não é um conceito guarda-chuva que incorpore os assim chamados “seguidores”, seja lá o que isso quer dizer. Seguidor, para mim, é alguém que se submete à direção imposta por terceiros por não ter capacidade de se aventurar na criação das próprias trilhas. Para que uma amizade provoque prazer em ser degustada, é preciso que ela contenha um toque de rebeldia, de independência, de altivez, de autodeterminação.
 Pensando bem, o único critério racional que considero essencial para qualificar uma pessoa como amiga é que ela seja portadora de irrestrita integridade. Que, na presença dela, eu possa também me mostrar por inteiro, sem temer nem a perda de afeto quando dos descaminhos, nem o tédio dos períodos de calmaria. Aprendi com a vida que uma verdadeira associação só pode ser conseguida por seres inteiros e separados que retêm sua separação mesmo em meio à união. Amizade é celebração contínua do dom da liberdade de espírito e dele se derivam todas as demais qualidades de caráter das duas partes.
Pensando bem, o único critério racional que considero essencial para qualificar uma pessoa como amiga é que ela seja portadora de irrestrita integridade. Que, na presença dela, eu possa também me mostrar por inteiro, sem temer nem a perda de afeto quando dos descaminhos, nem o tédio dos períodos de calmaria. Aprendi com a vida que uma verdadeira associação só pode ser conseguida por seres inteiros e separados que retêm sua separação mesmo em meio à união. Amizade é celebração contínua do dom da liberdade de espírito e dele se derivam todas as demais qualidades de caráter das duas partes.
 Você pode estar se perguntando: por que essa defesa de tese tão apaixonada? Eu respondo com alegria: é que hoje é o dia do nascimento de um amigo querido. Mesmo acreditando que não existem amigos mais especiais do que outros, quero celebrar especialmente a existência e a constância dessa pessoa que vem iluminando minha vida com sua sabedoria há sete décadas. Que nunca se deixou desestimular por inúmeros contratempos nem se intimidar pelo distanciamento geográfico. Que tem a grandeza de perdoar e nunca se cansa de demonstrar compaixão.
Você pode estar se perguntando: por que essa defesa de tese tão apaixonada? Eu respondo com alegria: é que hoje é o dia do nascimento de um amigo querido. Mesmo acreditando que não existem amigos mais especiais do que outros, quero celebrar especialmente a existência e a constância dessa pessoa que vem iluminando minha vida com sua sabedoria há sete décadas. Que nunca se deixou desestimular por inúmeros contratempos nem se intimidar pelo distanciamento geográfico. Que tem a grandeza de perdoar e nunca se cansa de demonstrar compaixão.
Desculpe, Roberto Carlos, mas eu não quero ter um milhão de amigos. Como já dizia Aristóteles, ter muitos amigos é não ter nenhum. Esse amigo de quem vos falo é coisa fina, um artigo especial, raro ‒ e, por isso mesmo, precioso para mim.
 Não se constranja, meu amigo, com tamanha efusividade. Em última instância, lembre que estou elogiando a mim mesma por ter sabido pinçá-lo em meio à multidão e por tê-lo conservado por tanto tempo bem perto do meu coração.
Não se constranja, meu amigo, com tamanha efusividade. Em última instância, lembre que estou elogiando a mim mesma por ter sabido pinçá-lo em meio à multidão e por tê-lo conservado por tanto tempo bem perto do meu coração.
Obrigada pela longeva companhia. Que saibamos descortinar novos horizontes para nossa relação todos os dias.
(*) Myrthes Suplicy Vieira é psicóloga, escritora e tradutora.