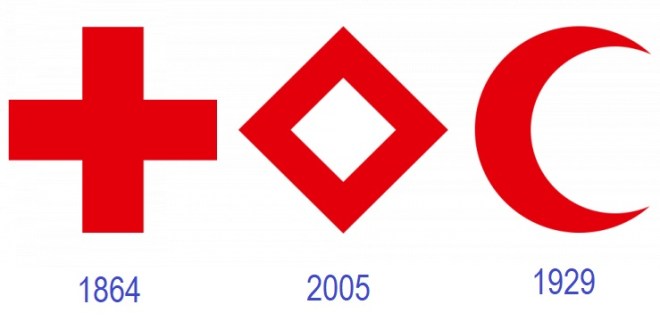José Horta Manzano
A Nicarágua é um pequeno país da América Central, um pouco maior que Portugal e um pouco menor que o Amapá. Abriga cerca de 6 milhões de habitantes.
Pobre e vampirizado por uma classe dominante acostumada a revezar-se no poder há séculos, o país não consegue deslanchar. Vive da extração de algum minério e da agricultura. Está entre os quinze maiores produtores de café.
A família Somoza mandou e desmandou no país durante meio século, a começar dos anos 1930, instalando um desavergonhado regime dinástico, com um ditador sucedendo ao outro.
No limiar dos anos 1980, levantou-se uma revolução nacional “para acabar com tudo isso que está aí”. É estado de espírito tristemente conhecido entre nós. Quando surge um líder com esse tipo de conversa, pode apostar: vai haver muita movimentação, mas, no final, nada vai mudar. Já vimos esse filme com o Collor, com o Lula, com o Bolsonaro. Deu no que deu.
De fato, foi o que aconteceu. Um jovem Daniel Ortega era o líder daquela que ficou conhecida como Revolução Sandinista, uma guerra de guerrilha. Muita gente morreu, os EUA se meteram na confusão, mas, no final, a dinastia dos Somoza foi interrompida. O quadro guarda semelhanças com a “revolución” dos bondosos irmãos Castro, na ilha de Cuba.
Os sandinistas nicaraguenses não conseguiram tomar o poder imediatamente. Instalou-se um governo civil, não revolucionário. Mas Daniel Ortega manteve-se nas cercanias do poder, esperando sua hora. Já não tão jovem como nos tempos da revolução, conseguiu finalmente chegar à presidência pelo voto em 2006.
Eleito, tomou gosto pelo poder. Agindo como um Putin tropical, ajeitou regras e leis em causa própria, e acabou instalando um regime que não fica nada a dever à ditadura que tinha jurado combater – veja como são as coisas.
Tendo sido eleito em 2006 com mandato de 5 anos, deu um jeito de se reelejer em 2011 e de novo em 2016. Faz alguns dias, venceu sua quarta eleição seguida, para novo mandato de 5 anos. Frise-se que a vice-presidente é Rosario Murillo, esposa do tiranete, a confirmar o total domínio do clã. Considerando que ele já completou 76 aninhos, terá 81 ao término do mandato. Se chegar até lá.
Para alcançar seu objetivo eleitoral, o velho líder não hesitou em instalar o terror nos partidos de oposição. Começou seis meses atrás. Ditadorzinho descarado, mandou prender os sete adversários que poderiam representar risco para sua reeleição. Só deixou livres os cinco nanicos, que não lhe traziam perigo e que lhe eram, de certo modo, subservientes. Proibiu que observadores estrangeiros viessem conferir a lisura do voto e da apuração. Sem surpresa, venceu com 75% dos votos. Foi na semana que passou.
O mundo civilizado denunciou a farsa, mas o PT, partido do qual o Lula é presidente de honra, entrou na contramão. Soltou nota qualificando a re-re-re-reeleição de Ortega como “grande manifestação popular e democrática”. O texto ainda menciona o trabalho do ditador na “construção de um país socialmente justo e igualitário”.
Passados dois dias, diante da onda de indignação que se alevantou na imprensa brasileira, a direção do PT decidiu improvisar uma retratação. Doutora Gleisi Hoffmann jura de pés juntos que o primeiro texto não tinha sido submetido à apreciação da diretoria. Portanto, ficava o dito pelo não dito. O quê? Que uma nota daquele teor tenha saído sem o aval do comitê central? Acredite quem quiser.
O ocorrido dá margem a interpretação. Na minha opinião, foi o próprio Lula, que é falto de instrução mas cheio de esperteza, quem mandou os companheiros desdizerem aquele palavrório padronizado e carimbado anos 1970. Em plena campanha eleitoral, tudo o que nosso guia não quer é reavivar, na lembrança do eleitorado, o radicalismo e as amizades perigosas que seu partido tem alimentado durante décadas: Chaves, Maduro, os bondosos irmãos Castro, os ditadores africanos.
Mas ninguém é bobo. A primeira nota – solta, livre, espontânea e sem amarras – foi o reflexo do verdadeiro ADN (=DNA) do Lula e dos seus. O resto é lantejoula para enfeitar campanha e enganar trouxa.
Entre a permanência de um desonesto Bolsonaro e a volta de um desonesto Lula… ai, meu São Benedito! Ajude-nos a encontrar uma terceira via decente! Mas não demore muito!




 Para saber mais:
Para saber mais: