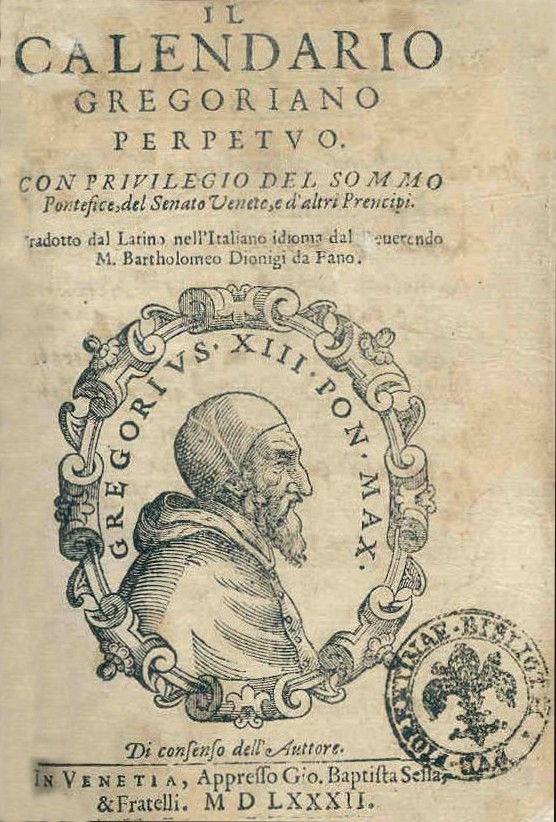José Horta Manzano
Esse é trecho da nota emitida pelo movimento Save SA ‒ Salve a África do Sul, que, há tempos, vem manifestando oposição ao governo do ora caído presidente Jacob Zuma. Declaram-se absolutamente radiantes de ver pelas costas o «pior presidente que o país teve até hoje».
Quando Nelson Mandela conseguiu a inimaginável façanha de evitar um banho de sangue ‒ por ocasião da transição do país do regime de apartheid à democracia universal ‒, o mundo passou a enxergar a África do Sul com outros olhos. De terra fadada ao fracasso e à guerra civil, o país passou a ser visto como emergente e promissor.
A África do Sul é república parlamentar. Sua Constituição, diferentemente da de outros regimes parlamentaristas, prevê que o presidente seja, ao mesmo tempo, chefe do governo e chefe do Estado. A diferença entre esse sistema e o presidencialismo puro é que o mais alto dirigente sul-africano não depende diretamente das urnas, mas da confiança do parlamento. Caso os parlamentares votem uma moção de desconfiança, ele é apeado do cargo.
Foi o que aconteceu dois dias atrás com Jacob Zuma, terceiro sucessor do velho Mandela. Seu partido, que é amplamente majoritário, pediu-lhe que renunciasse à presidência. Caso não o fizesse, moção de desconfiança estava pronta pra ser votada. Bem a contragosto, o presidente se foi. Não sem antes apresentar um balanço de seus anos de governo. É um balanço típico de ‘contabilidade criativa’, em que, escamoteados os passivos, só os ativos são mencionados. Só o lado sorridente aparece.
Mas o lado sombrio é tenebroso. O presidente caído está enroscado em 783 acusações de corrupção(!) ‒ volume pra deixar qualquer envolvido na Lava a Jato babando de inveja. O país-modelo da África deixou-se gangrenar pela corrupção erigida em sistema de governo. Bem longe das promessas de vinte anos atrás, a África do Sul tem hoje 50% dos habitantes abaixo da linha de pobreza. E a taxa de desemprego atinge 30% da população em idade de trabalhar.
O fator mais preocupante é o desencanto do povo: a maioria acredita que o substituto de Mister Zuma será tão corrupto quanto ele. Nós, no Brasil, que atravessamos um longo período de corrupção e de roubalheira análogo ao da África do Sul, pelo menos guardamos esperança de que o futuro seja mais risonho. Não há dúvida: o brasileiro é um povo cordial.











 Nota interessante
Nota interessante