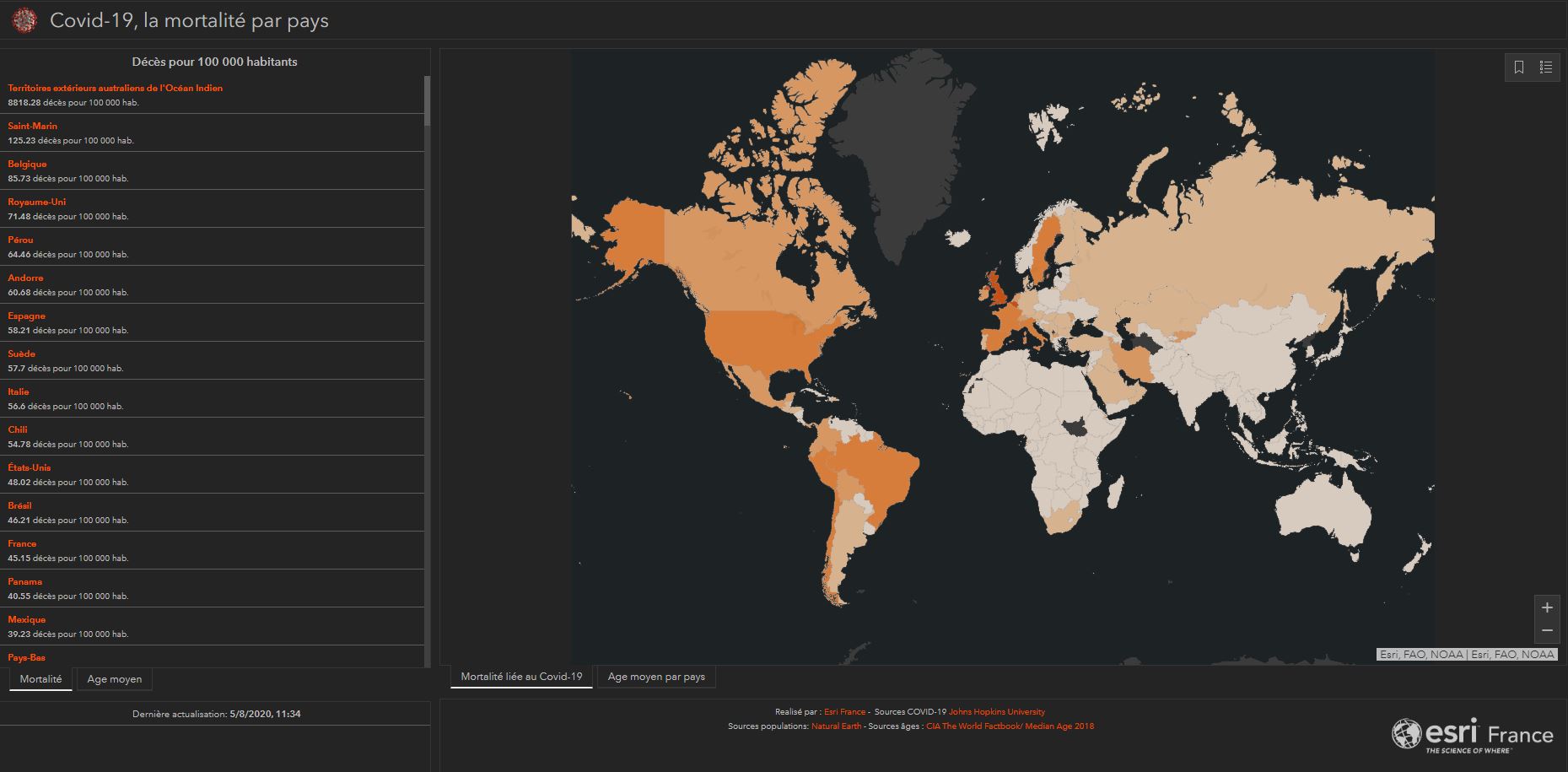José Horta Manzano
Agosto e nossos distúrbios
No Brasil, dizem que agosto é mês de vento e cachorro louco. Mas parece que não passa de crença de gente antiga, daquelas que fazem sorrir. Mas há fatos ocorridos nesse mês, que não tem nada a ver com brincadeira. Todos ligados à Presidência da República, estão mais para tragédia nacional.
Em 24 agosto de 1954, suicidou-se o presidente Getúlio Vargas. O país entrou em comoção.
Sete anos mais tarde, em 25 de agosto de 1961, o presidente Jânio Quadros renunciou ao cargo e zarpou para a Inglaterra.
Passados mais nove anos, chegou a vez do presidente Costa e Silva: em 31 de agosto de 1969, sofreu um AVC e foi afastado do cargo.
Mais sete anos, e a tragédia atingiu Juscelino Kubitschek, então já ex-presidente: morreu num terrível acidente de automóvel em 22 de agosto de 1976.
Em 13 de agosto de 2014, Eduardo Campos, candidato à Presidência, morreu num acidente de jatinho que se estatelou na cidade de Santos (SP). Não era candidato nanico – tinha até boas chances.
Dois anos mais tarde, nova convulsão na Presidência. O fim do julgamento do impeachment de Dilma Rousseff foi em 31 de agosto de 2016. Nesse dia, a presidente foi destituída.

Outubro e os distúrbios deles
Nos EUA, o mês reservado aos perigos parece ser outubro. Afeta, em especial, candidatos à Presidência. Criativos, os americanos inventaram até a expressão «October surprise – surpresa de outubro» para designar o fenômeno. Dependendo da magnitude, a ‘surpresa’ – que costuma ser fruto de conspiração – pode até afetar o rumo da eleição.
No finzinho de outubro 1972, dias antes da eleição, Henry Kissinger, secretário de Estado, deixou vazar a informação de que a Guerra do Vietnam estava para acabar. “Peace is at hand – a paz está ao alcance da mão”. Considera-se que a notícia foi responsável por um fabuloso empurrão na candidatura de Nixon, o presidente que tentava a reeleição. De fato, o homem foi reeleito, mas a guerra, que estava longe de acabar, ainda duraria longos anos.
Em novembro de 1979, na presidência Carter, estudantes iranianos invadiram a embaixada americana em Teerã e tomaram centenas de americanos como reféns. O sequestro foi longo. Já ia para um ano, mas as negociações continuavam no ponto morto. No fim de outubro de 1980, perto das eleições, os sequestradores anunciaram que só soltariam os reféns quando Jimmy Carter tivesse deixado a presidência. A notícia foi tão impactante, que os eleitores descartaram Carter (sem trocadilhos) e deram ampla vitória a Reagan. (Dizem que os sequestradores receberam uma ‘ajudazinha’ da campanha de Reagan, mas pode ser intriga da oposição.)
Nas eleições de 2000, outra ‘surprise’ apareceu. Em outubro, cinco dias antes do voto, vazou a (velha) notícia de que George W. Bush, então governador do Texas, tinha sido preso em 1976 (24 anos antes!) por dirigir embriagado. A equipe de campanha de Al Gore foi suspeitada de estar por trás do vazamento. Bush ganhou, mas teve a vitória mais apertada que se tinha visto até então. Perdeu no voto popular e só se elegeu após recontagem de votos na Flórida e batalha na Suprema Corte.
Em outubro de 2004, os EUA patinhavam nas batalhas do Oriente Médio e caçavam Bin Laden sem nunca conseguir encontrá-lo. Menos de uma semana antes da eleição, a emissora de tevê Al Jazeera exibiu um vídeo de Bin Laden com ameaças ao então presidente George W. Bush e com críticas a seu desempenho. Desconfia-se de que a exibição do vídeo tenha resultado de um acerto entre John Kerry, o adversário de Bush, e a tevê árabe. Esperto, Bush virou o jogo ao convencer os eleitores de que somente ele era capaz de proteger o país. Venceu com facilidade.
Nos últimos dias de outubro de 2012, uma verdadeira surpresa aconteceu: o violento furacão Sandy atingiu Nova Jersey. Ainda que, neste caso, a surpresa de outubro não fosse resultado de conspiração, acabou sendo benéfica para Barack Obama, o presidente que tentava reeleger-se. Por um lado, Obama foi magistral ao aproveitar a ocasião para se mostrar à altura do cargo no trato da emergência. Por outro, Mitt Romney, o adversário, teve de suspender a campanha na reta final, visto que pegaria supermal fazer comício em tempo de tragédia nacional. Obama foi reeleito sem problemas.
Estamos em outubro de 2020. O presidente Trump, adulado por uns, abominado por outros, tenta a reeleição. Desta vez, a “October surprise” veio logo no começo do mês: ele anunciou hoje que apanhou a covid. Pode ser que seja jogada de marketing – com Trump, nunca se sabe. (É curioso notar que, dos dirigentes mundiais mais conhecidos, os únicos três que se contaminaram foram justamente os negacionistas, aqueles que afirmaram que a doença não passava de uma gripezinha: Boris Johnson, Donald Trump e Jair Bolsonaro. Alguém acredita em castigo de Deus?)
Para saber se a safra 2020 da “October surprise” afetou a eleição, vai precisar esperar que os americanos votem. Ouvi dizer que, ao saber que Trump está com covid, muita gente se pôs a fazer novena. Parece que até alguns agnósticos aderiram à reza.