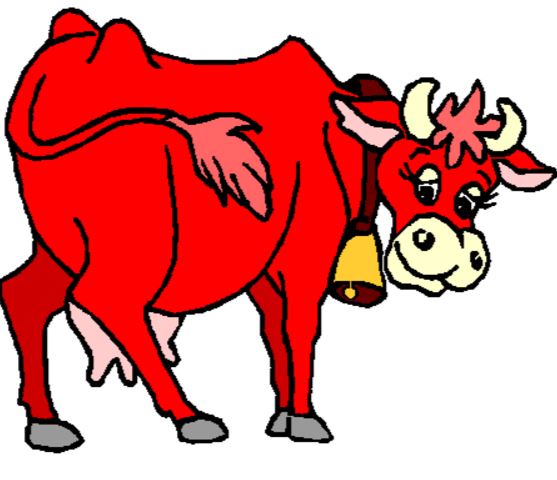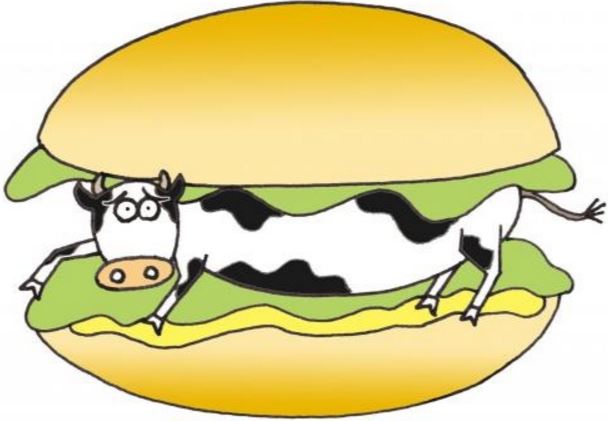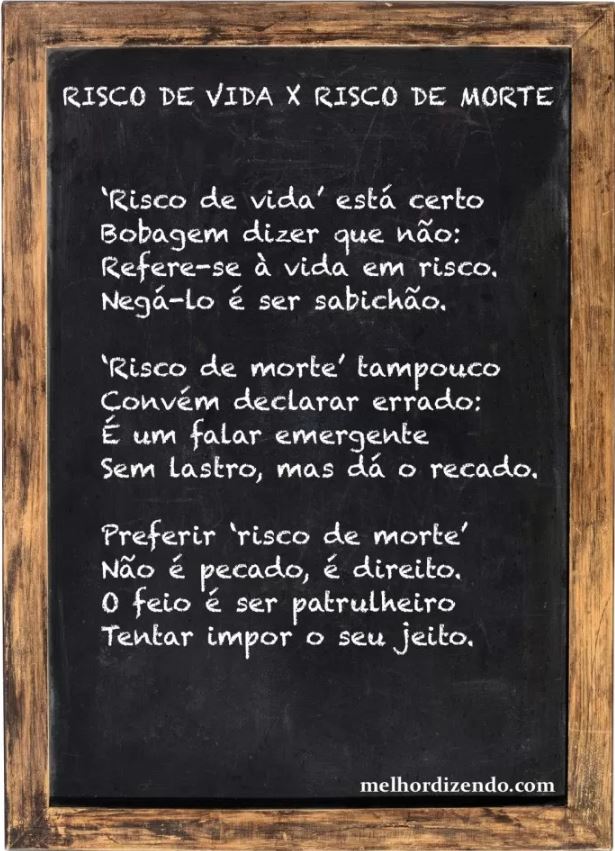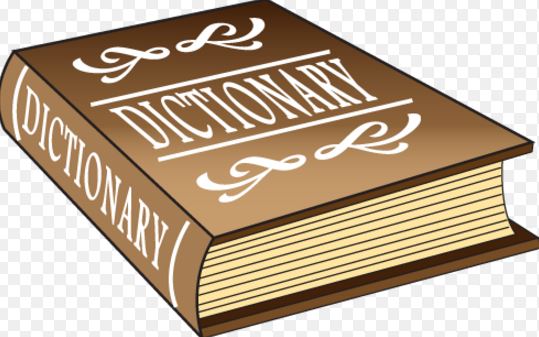Myrthes Suplicy Vieira (*)
Ao menos na língua portuguesa há sutis porém significativas diferenças entre os conceitos de grandeza e grandiosidade. Embora ambas as palavras conotem aferição quantitativa de dimensões ‒ como altura, largura, volume, extensão ou amplidão ‒ a primeira é a única a englobar também aspectos anímicos e de caráter.
Consultando dicionários da língua inglesa, constatei que nela é muito mais acanhada a referência às noções de nobreza de sentimentos e força moral que também estão implícitas na definição de grandeza. Na linguagem coloquial, ‘great’ é, em geral, usado como sinônimo de excelente/ótimo, ainda que possa denotar também algo ou alguém superior, poderoso, forte, influente, importante ou renomado.
Curiosamente, em português, é possível até brincar com os sentidos quantitativo e qualitativo do adjetivo ‘grande’ bastando para isso mudar sua posição em relação ao substantivo. Sem nos darmos ao trabalho de fazer todo um discurso ideológico, podemos dizer, por exemplo, que o Brasil é certamente um país grande, mas dificilmente chegará um dia a ser um grande país.
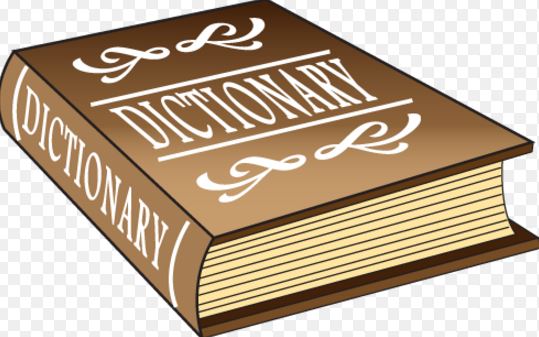 Essas considerações me ocorreram quando vi pela primeira vez o slogan de campanha do atual presidente norte-americano. Não pude deixar de me perguntar: afinal, que tipo de promessa ele está fazendo mais especificamente e qual das duas vertentes de significado o eleitorado apreendeu? Não conheço as respostas, mas é muito provável que, se consultados, cidadãos de várias outras partes do mundo responderiam de pronto: “Ah, é típico de americano querer ser o maior e o melhor em tudo. Pura mania de grandeza!”
Essas considerações me ocorreram quando vi pela primeira vez o slogan de campanha do atual presidente norte-americano. Não pude deixar de me perguntar: afinal, que tipo de promessa ele está fazendo mais especificamente e qual das duas vertentes de significado o eleitorado apreendeu? Não conheço as respostas, mas é muito provável que, se consultados, cidadãos de várias outras partes do mundo responderiam de pronto: “Ah, é típico de americano querer ser o maior e o melhor em tudo. Pura mania de grandeza!”
Estereótipos à parte, imagino que o mesmo arrepio de pavor percorreria a espinha de muita gente caso líderes políticos de outros países prometessem resgatar a supremacia nacional de forma tão arrogante e agressiva. Seja como for, o que chama minha atenção neste momento é que o inquietante projeto Trump de poder não pode ser considerado, de maneira nenhuma, um fenômeno isolado. Em diversas outras nações, governos que implementaram ações de proteção de direitos e inclusão social vêm sendo substituídos por administrações baseadas em ideário fortemente nacionalista e patrimonialista. Em paralelo, pipocam aqui e ali movimentos contrários à globalização, ao acolhimento de refugiados e de excludente caráter religioso fundamentalista.
Talvez tudo não passe do já proverbial movimento pendular da história, mas suspeito que motivações psíquicas muito mais profundas estejam em jogo. A impressão que tenho é a de que, em nossas tecnologicamente avançadas sociedades, já não há nem tempo nem espaço para as coisas do espírito. Vivemos todos na periferia de nós mesmos e alienados de nossa essência humana. Hoje em dia a formação de vínculos é essencialmente pragmática: dura o tempo da satisfação de um desejo ou do atendimento de uma necessidade. Em consequência, nossa ação no mundo deixou de ser altruísta e agora é forçosamente voluntarista.
É como se tudo que represente interesse coletivo tivesse perdido atratividade e respeito. Já aprendemos que o cobertor dos recursos do planeta é curto e que, para cobrir as demandas existenciais de terceiros, temos de aceitar o risco de ficar a descoberto no futuro. A luta pela sobrevivência é tão desigual que já não nos reconhecemos como comunidade humana. E o clima de ‘cada um por si’ ficou ainda mais tenso quando as grandes massas intuíram que nunca houve um Deus por ‒ e para ‒ todos.
É forçoso admitir que, em termos psíquicos, é de fato angustiante sabermo-nos todos no mesmo barco e descobrir que ele está prestes a afundar. Instintivamente, buscamos formas de nos proteger e de nos isolar do sofrimento geral. Se a farinha é pouca ‒ raciocinamos mesmo que a contragosto ‒ meu pirão primeiro.

Zygmunt Bauman
O sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman debruçou-se sobre essa questão e postulou: “A preocupação com a administração da vida parece distanciar o ser humano da reflexão moral”. Talvez seja exatamente porque nos convencemos de que as estatísticas estão certas ‒ não há comida, água, terra nem trabalho para todos ‒, que a civilização humana está em colapso, voltando aos poucos ao estágio da barbárie. Generosidade, compaixão e outros sentimentos nobres que antigamente estavam estocados no quartinho dos fundos da alma de cada um para uso em caso de necessidade premente parecem ter, de fato, embolorado e perdido o prazo de validade.
O que fazer então para resgatar o lado luminoso da espécie e tornar o ser humano grande de novo? Recorro mais uma vez ao pensamento do filósofo e poeta Ferreira Gullar para lembrar que “só existe generosidade onde há utopia”. Ora, se até aqui não fomos capazes de superar as contradições entre capital/trabalho, liberdade/segurança, equilíbrio econômico/proteção social, parece que está mais do que na hora de engendrarmos novas utopias.
Precisamos urgentemente de um novo paradigma filosófico humanista ético que nos inspire a desenvolver:
• um sistema de governo que substitua a agonizante democracia representativa e acabe com a centralização do poder nas mãos de oligarquias;
• um sistema econômico que garanta a prosperidade de todos, impeça a concentração de riquezas nas mãos de poucos e não recorra a práticas clientelistas e assistencialistas;
• um projeto ambiental que garanta a preservação dos recursos naturais sem se chocar com os ditames racionais do assim chamado ‘progresso’;
• um sistema religioso ecumênico que não colida com crenças ateístas e agnósticas.
Uma tarefa nada desprezível. Alguém se habilita?
 Mas calma, relaxe, não é preciso ir tão longe desde já. Nada impede que, dentro das fronteiras de nosso mundinho particular, nos comprometamos com novas regras de existência e coexistência harmônica. A milenar filosofia oriental de integração dos opostos yin-yang pode ser um bom começo.
Mas calma, relaxe, não é preciso ir tão longe desde já. Nada impede que, dentro das fronteiras de nosso mundinho particular, nos comprometamos com novas regras de existência e coexistência harmônica. A milenar filosofia oriental de integração dos opostos yin-yang pode ser um bom começo.
Outra possibilidade para reacender a chama do desejo de estar a serviço do bem-estar geral é contar com a sabedoria dos cães. Totalmente indiferentes às diferenças de cor, raça, tamanho ou comportamento de dominância, eles se comprazem em cheirar o traseiro dos recém-chegados para descobrir se são ou não dignos de confiança e dar início a jogos de interação. Porque se comunicam apenas através da energia e são capazes de viver integralmente no aqui e agora, eles nos ensinam ainda que ‘é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã… porque, se você parar para pensar, na verdade não há’.
 Nota importante
Nota importante
Este texto não é originalmente meu. Foi-me ditado como última mensagem de esperança por minha filósofa canina preferida, que agora brinca nos campos do Senhor.
(*) Myrthes Suplicy Vieira é psicóloga, escritora e tradutora.