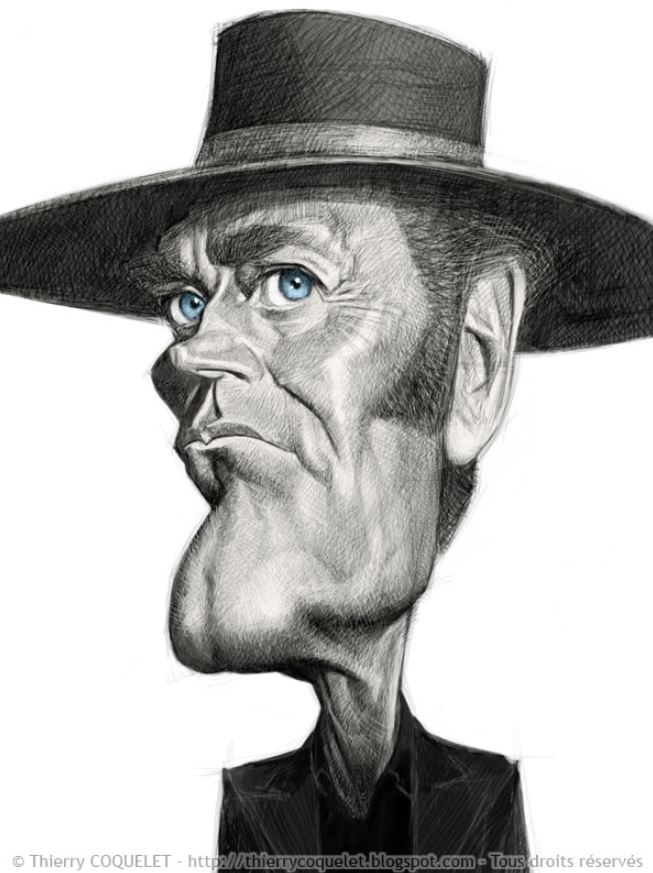Francisco de Paula Horta Manzano (*)
Foram tempos difíceis. Não fossem alguns amigos, nem sei bem que rumo, talvez até trágico, poderia ter tomado a vida do Neves, coitado.
E foi justamente nessa hora que o Neves pôde reconhecer o valor de seus amigos. Ao menos daqueles mais próximos, que não mediram esforços para contrariar a natureza e fazer com que a vida dele se tornasse um pouco melhor do que estava.
Aquilo, provavelmente, seria apenas uma fase ruim, afinal, a vida de todo o mundo é assim mesmo, feita de fases, com algumas marés boas e outras deprimentes.
Mas aqueles foram tempos difíceis mesmo. Primeiro a separação, com a mulher do Neves indo embora de casa. Em seguida, praticamente na mesma época, a perda do emprego. Era duro enfrentar a situação, quando a mulher e o patrão do Neves descobriram, ao mesmo tempo, que não precisavam mais dele. Pior do que isso, só se os dois (patrão e mulher) descobrissem que não precisavam mais do Neves e que ambos precisavam muito um do outro. Mas não foi esse o caso, dos males o menor. Apenas coincidiu de ambos dispensarem os bons serviços prestados pelo fiel Neves depois de tantos anos. Há quem diga que isso é destino, outros chamam de praga de urubu.
De qualquer forma, aconteceu desse jeitinho mesmo. O patrão do Neves achou que ele já não estava produzindo tanto quanto antes e disse-lhe simplesmente: “Foi um prazer tê-lo conhecido, tchau”. A mulher do Neves, quanto a ela, nem isso disse. Deu apenas um sonoro “tchau” e saiu pisando duro, com um ar de até-nunca-mais-se-Deus-quiser. Talvez ele também já não estivesse mais produzindo tanto quanto produzia antes ‒ isso ninguém nunca ficou sabendo ao certo…
O Neves chorou, sofreu, imaginou que nunca mais ia se recuperar, começou a achar que não servia mais pra nada, nem pra trabalhar e, pior que isso, nem pra ter uma mulher, aquelas coisas todas de baixo astral, dava dó, só vendo.

by Vasilis Akoinoglou, artista grego
Deixou de pagar o aluguel, com o qual já não tinha mais como arcar. Começou a beber. Só não foi parar na rua porque o Pacheco e sua mulher lhe deram uma mão e se ofereceram para recebê-lo em casa. Por uns tempos, é claro, só até que as coisas melhorassem. O Neves hesitou, não queria aceitar, mas diante das circunstâncias, como não lhe sobravam outras opções entre aceitar a ajuda ou eleger residência debaixo do Viaduto Santa Ifigênia ou sob um viaduto da Avenida Marginal (num programa de múltipla escolha), acabou aceitando o oferecimento do casal de amigos, frisando bem que era apenas temporário.
O casal Pacheco recebeu o Neves com visível prazer, muitas atenções e todos os cuidados que se têm quando se acolhe um bom amigo em casa. Ele parecia fazer parte da família. Muito amigos, realmente. Coisa bonita e rara de ver, aquilo.
No início, o Neves tentou relaxar um pouco depois do sufoco pelo qual andara passando; tratou de desligar e se refazer. O casal Pacheco sempre solícito, fazendo de tudo para tornar a hospedagem perfeita.
O Neves batalhou e, depois de algum tempo, conseguiu encontrar novo empreguinho. Não era tão bom quanto o anterior mas, àquela altura, ele não podia ser tão exigente. Aceitou aquele mesmo, afinal, era um recomeço.
A mulher do Pacheco, uma morena muito bonita, de olhos grandes, sorriso aberto e sincero, sempre agradando ao Neves em tudo o que estava a seu alcance, incentivando-o o mais que podia.
Passados o susto e o trauma dos primeiros tempos, a vida do Neves pareceu estar voltando ao normal. Aliás, mais ao normal do que se imaginava.
Aproveitava sempre seu tempo livre para conversar com a sra. Pacheco. Não podia deixar de admirar e sentir-se atraído pela beleza natural daquela mulher, digamos assim, tão boa de alma quanto de corpo também. Com todo o respeito, é claro.

by Vasilis Akoinoglou, artista grego
Era impossível olhar para aquela mulher sem se deleitar com imagem tão bonita ‒ uma mulher que devia ter sido feita num dia em que Deus, certamente de bom humor, decidira mostrar o que é capaz de fazer para alegrar os homens. Diante de mulher com perfume tão suave, voz tão delicada e gentil, sentimentos tão nobres, o Neves não conseguia evitar que lhe passasse pela pobre cabeça um desejo forte que vinha tímido, discreto, mas sincero, lá do fundo do seu ser. Mas que ele logo tratava de reprimir em nome do bom senso e do respeito ao amigo Pacheco.
Diariamente aquela mulher, com seu jeito tão natural e ao mesmo tempo sensual, provocava sonhos no Neves, sonhos estes inapelavelmente classificados como “impróprios para menores de 18 anos”.
O Neves começava a sentir-se mal com a situação. Francamente, não pegava bem ficar assim pensando em bobagens justamente com a mulher do amigo Pacheco. Afinal, era constrangedor que isso acontecesse justamente com o casal de amigos (por sinal bons e grandes amigos) que o haviam socorrido, acolhido e abrigado num momento tão delicado e difícil.
Ele já não pensava mais nela como a mulher do amigo. Já pensava nela apenas como mulher, sem o amigo.
Um dia o Neves disse para si mesmo: “‒ Eu só seria capaz de fazer uma coisa dessas se eu fosse mesmo um cara muito sem-vergonha, um canalha, que não tivesse caráter nem princípios. E se eu fosse, ainda por cima, totalmente irresponsável”.
Mas como nesta vida a gente vai vivendo e descobrindo coisas novas e surpreendentes a cada dia, meia hora mais tarde ele concluiu: “‒ É… Acho que eu sou tudo isso mesmo…”
(*) Francisco de Paula Horta Manzano (1951-2006), escritor, cronista e articulista.