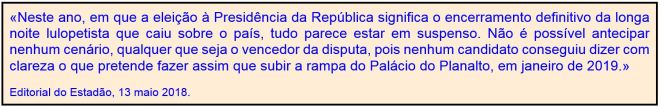José Horta Manzano
Com tantos reis e rainhas espalhados pelo mundo, é difícil entender a razão pela qual a realeza britânica fascina tanto. Qualquer fato ligado à família real é bom pra animar a mídia : um nascimento, uma separação, um discurso da rainha, um casamento. Falando em casamento, temos um este fim de semana.
Um dos netos da rainha Elizabeth vai se casar com uma jovem americana. A moça, apresentada como «negra», é na verdade mestiça, mulata clara. Tem 50% de sangue negro e 50% de sangue branco. Se não se pode dizer que é branca, tampouco se deve dizer que é negra. Não vejo por que uma das metades anularia a outra.
União fora dos padrões, na Inglaterra pudibunda do século 19, seria inimaginável. E olhe que nem precisa ir muito longe no tempo. Nos anos 1930, o rei Eduardo VIII foi forçado a abdicar o trono por insistir em se casar com uma mulher divorciada ‒ americana, por sinal. Hoje, passados oitenta anos, Charles, filho da rainha e herdeiro da coroa, divorciou-se da primeira esposa e está casado com Camila, uma divorciada. E tudo bem.
A entrada de uma mestiça na realeza inglesa vem a calhar. É de lembrar que 8% dos habitantes do reino são de origem asiática, negra ou mestiça. A futura princesa quebra a tradição de uma família real exclusivamente branca. Faz bem à imagem do país, donde a aprovação geral.
O casamento deverá ser acompanhado, pela televisão, por dois bilhões de terráqueos, uma enormidade. Cem mil turistas são esperados em Londres. Calcula-se que a venda de souvenirs e o comércio diretamente ligado ao evento movimentarão 600 milhões de euros ‒ uma bênção para uma economia castigada pelo Brexit. As bodas são excelente operação comercial, benéfica para todos.
Nem todos os brasileiros sabem, mas Sylvia, a rainha da Suécia, é brasileira. Filha de pai alemão e mãe brasileira, nasceu na Alemanha mas cresceu no Brasil dos 4 aos 14 anos de idade. Tem duas línguas maternas: português e alemão. Fala nossa língua como qualquer um de nós.
Apesar dessa proximidade, ninguém se interessa pelos fatos e gestos da família real sueca. Não se ouve notícia, não se publicam fotos, não se lê nada. Enquanto isso, basta um espirro da realeza londrina para a mídia se assanhar. Enfim, que é que se há de fazer? Así nos están saliendo las cosas.