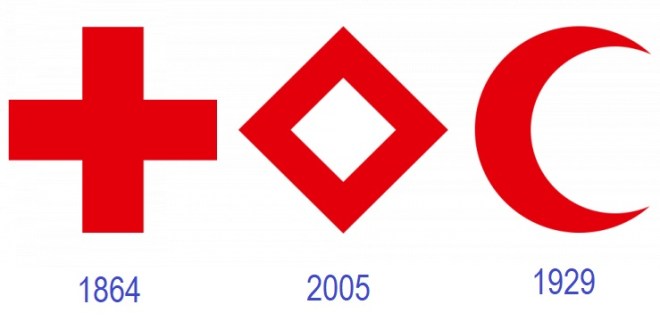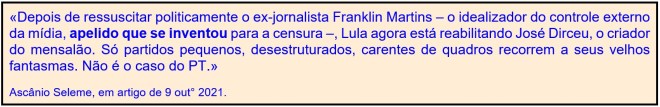José Horta Manzano
José Horta Manzano
Bem depois do triste 7 de setembro, fanáticos de extrema-direita continuaram acampados por bom tempo em Brasília. A ideia fixa deles é a de sempre: preparar uma “faxina geral para pôr fim à corja maldita da República”. Na visão dessa gente, a “corja maldita” está integrada pelos magistrados do STF e pelos parlamentares eleitos pelo povo. Em resumo, “malditos” são todos os que não dizem amém aos caprichos do capitão.
Quando acampados, usaram várias vezes a expressão “vamos ucranizar o Brasil!”. Essa gente feroz gosta de utilizar esse mote. Como diria minha avó, ouviram cantar o galo, mas não sabem onde é a missa. Típicos representantes de uma geração que não lê nem aprende, contentam-se com as duas primeiras linhas de um tuíte qualquer, sem buscar saber os comos e os porquês das coisas. Deve ter sido assim que aprenderam a repetir essa bobagem. Ou então, pior ainda, sabem o que aconteceu por lá, mas omitem o fim da novela, pra ficar mais bonito. Isso já é pesada desonestidade intelectual – o que não é espantoso vindo de quem vem.
“Ucranizar o Brasil” é expressão pra lá de inapropriada. Sofrer o mesmo destino da Ucrânia é desgraça que ninguém – repito, ninguém, nem os mais incendiários – desejam para o próprio país. Sem ter a pretensão de escrever um tratado sobre os problemas da Ucrânia, dou abaixo algumas pinceladas, para o caso de alguém estar interessado em conhecer ou recordar.
Após a queda do Muro de Berlim (1989) e a desintegração da União Soviética, que veio pouco depois, a vontade maior dos povos que orbitavam em volta do império russo era livrar-se definitivamente do perigo de, um dia, ser de novo aspirados e tragados pelo temível vizinho.
As repúblicas ex-soviéticas situadas na Ásia não tiveram escolha. Afastar-se da Rússia significava jogar-se nos braços da China ou da Índia, os grandes vizinhos mais próximos. Não era bom negócio. Sem escolha, continuam até hoje na órbita do Grande Irmão.
Já as repúblicas situadas em solo europeu – tanto as que integravam a União Soviética (Ucrânia, Bielorrússia), quanto as que giravam em torno como satélites (Polônia, Hungria e as demais) – tinham um sonho comum: aderir à União Europeia. Naquele momento em que o equilíbio mundial estava se rompendo, a Guerra Fria ainda estava presente em todas as mentes. O objetivo dos povos que haviam vivido sob a pesada influência da Rússia soviética era ser acolhido e amparado por um braço forte que os protegesse do antigo papão.
Um a um, sob o olhar desacorçoado de uma Rússia impotente, os antigos satélites da União Soviética solicitaram o bilhete de entrada na União Europeia. Em 2004, de uma tacada só, 8 antigos afilhados de Moscou foram oficialmente aceitos na UE. Mas Putin já tinha tomado as rédeas do país, com a firme intenção de reerguer o império. Graças a ele, mesmo sem recobrar o status da antiga URSS, o país voltou a figurar entre os grandes. Manteve seu posto de segunda potência nuclear do planeta, atrás dos EUA e muitíssimo à frente da China, com diversas bases militares no estrangeiro.
Com uma Rússia fortalecida, a ilusão de aderir à UE foi ficando distante para a Ucrânia. É enorme a dependência de Kiev com relação a Moscou. Para os russos, a Ucrânia é o berço da civilização deles, uma joia que não se pode entregar a estrangeiros de jeito nenhum. A língua ucraniana é uma variante do russo, o que reforça os laços. Para Putin, seria inadmissível ter às portas de seu país uma Ucrânia integrada na UE, quiçá com tropas da Otan(*) estacionadas na fronteira.
Durante o inverno gelado 2013-2014, o povo ucraniano se rebelou contra a decisão tomada por seu governo, que desistiu de assinar um acordo com a UE e preferiu reforçar os laços com o Grande Irmão russo. As manifestações de protesto se estenderam por 3 meses, ao final dos quais o presidente ucraniano, grande amigo de Moscou, foi destituído.
Mas o povo obteve uma vitória de Pirro – vistosa mas de consequências contrárias ao que desejavam. A partir da destituição do presidente ucraniano, a Rússia apertou o torniquete. Cortou o gás, mercadoria vital em pleno inverno, sem a qual a população perigava morrer de frio. Suspendeu trocas comerciais. O resultado é que a Ucrânia teve de entregar os pontos. Acabou deixando pra lá o objetivo anterior, que era de candidatar-se a uma vaga na União Europeia.
E agora vem a parte que os devotos bolsonaristas não contam. Desconhecem por ignorância? Escondem por malandragem? É difícil saber. O fato é que a consequência principal do levante popular de 2014, que os fanáticos do capitão chamam de “ucranização”, é a guerra civil que se instalou no país e que não acabou até hoje.
As províncias do leste da Ucrânia são culturalmente muito próximas da Rússia, a ponto de a maioria de seus habitantes se considerar mais russa do que ucraniana. Com as províncias do oeste, acontece o inverso. E daí? Daí, o país se dividiu em dois. O governo de Kiev controla a parte oeste do país. Quanto às províncias orientais, é tudo mais ou menos. Ninguém sabe direito quem manda. Na região do Donbass (capital: Donetsk), é pior ainda. Ali grassa uma guerra civil. Tanques passeiam pelas ruas. As estradas têm bloqueios, e não passa quem quer. Virou terra de ninguém: teoricamente ucraniana, mas russa de facto. Com os espíritos exaltados pelo nacionalismo exacerbado, ninguém está disposto a ouvir as razões do adversário, muito menos abandonar a língua materna. Embora se pareçam muito, o russo e o ucraniano são línguas diferentes. Para nós, podem ser muito parecidas, mas para eles a língua materna é o marcador da nacionalidade. Ninguém está disposto a abandonar seu falar em favor da outra variante. Portanto, não há solução à vista.
O único remédio – que é provavelmente o que vai acabar ocorrendo – é a partição oficial do país, com entrega à Rússia da parte onde a população se sente mais russa que ucraniana. Em resumo, o país está para sempre fraturado – com fratura exposta. É realmente isso que os fanáticos do capitão gostariam que ocorresse entre nós? A “ucranização do Brasil”?

(*) A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) é um pacto militar capitaneado pelos EUA, do qual fazem parte quase todos os países europeus.