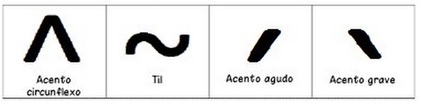José Horta Manzano
Antes de começar, faço questão de deixar claro que vejo no artista Francisco Buarque de Hollanda um dos grandes da música brasileira. Com o devido respeito ao gênero de cada um e à época em que exerceram sua arte, considero que Chico ocupa lugar de honra no mesmo patamar em que estão Francisco Mignone, Heitor Villa-Lobos, Oswaldo Gagliano (Vadico), Ary Barroso, Baden Powell, Tom Jobim e mais três ou quatro. Não é coisa pouca.
Mas ninguém é perfeito. Artistas, principalmente, devem ser julgados por suas qualidades, não por seus defeitos. Se alguns dos que citei bebiam demais, eram mulherengos ou chegaram a tomar ideias musicais “emprestadas” de terceiros, que importância tem isso em sua arte? Os eflúvios do álcool, as estrepolias de alcova ou até a inspiração colhida em obra alheia passam. O que fica, ao final, é a arte de cada um. Os personagens que citei, cada um em seu estilo, ainda estarão na crista da onda daqui a séculos.
Num documentário lançado recentemente, Chico Buarque fez um pronunciamento pra lá de polêmico, quase uma provocação. Ao referir-se ao extraordinário “Com açúcar, com afeto”, uma das maravilhas da MPB, samba composto por ele há 55 anos, disse:
“Na verdade, a primeira música que fiz na primeira pessoa foi pra Nara [Leão]. Ela me pediu uma música ‘daquelas’, ela me encomendou essa música. Ela falou ‘Eu quero agora uma música de mulher sofredora’. E deu exemplos de canções do Assis Valente, Ary Barroso, aqueles sambas da antiga, onde os maridos saíam para a gandaia e as mulheres ficavam em casa sofrendo, tipo “Amélia”, aquela coisa. Ela encomendou, e eu fiz (…) É justo, as feministas têm razão, vou sempre dar razão às feministas, mas elas precisam compreender que naquela época não existia, não passava pela cabeça da gente que isso era uma opressão, que a mulher não precisa ser tratada assim. Elas têm razão. Eu não vou cantar ‘Com açúcar e com afeto’ mais e, se a Nara estivesse aqui, ela não cantaria, certamente.”
Pra quem teve preguiça de ler na íntegra a citação, fica aqui o essencial da fala do artista: “É justo, as feministas têm razão, vou sempre dar razão às feministas”.
Essa declaração comporta um trecho assaz constrangedor, em que Chico, um tanto ingenuamente, empresta intenções a Nara Leão, falecida há mais de três décadas. Diz que, se viva fosse, ela certamente não cantaria “Com açúcar, com afeto”. Acho sempre arriscado pôr palavras na boca dos mortos ou intenções na cabeça deles. No limite, ele poderia ter dito que achava, que imaginava, que acreditava. Mas ele disse que “certamente” ela não cantaria. Uma temeridade. Ninguém pode fazer afirmação desse quilate, passados mais de trinta anos do desaparecimento da pessoa.
Por minha parte, acho que Nara não abandonaria um dos tesouros do cancioneiro nacional que, examinado com lupa, não reforça preconceito nenhum, limitando-se a descrever com sobriedade o dia a dia de um casal que viveu faz meio século, uma vida como milhões de outras. Com alguma insatisfação mas também com ternura. E sem violência. Mas no fundo, ninguém – nem Chico, nem eu – pode ter certeza sobre a decisão que Nara tomaria.
Mas o que mais me impactou foi outra frase. Foi a que pus em negrito. Chico diz, com todas as letras, que “as feministas têm razão” e que vai “sempre dar razão a elas”. Ele não se restringe a este caso. Ele diz sempre. Tirando ditadores e líderes autoproclamados e autoincensados, que costumam ter um parafuso a menos e, por isso, se acham infalíveis, ninguém na face da Terra tem sempre razão. Ninguém.
Devo confessar que fiquei um tanto chocado com a fala do imenso artista. A forma como ele lança essa afirmação é tão natural, que a gente se dá conta de que ele acredita no que está dizendo. Acha realmente que as feministas têm sempre razão.
Apesar do abalo, para mim, Chico continua exatamente no mesmo pedestal em que sempre o alcei. Continua a fazer companhia a Ary, a Mignone, ao Tom e aos demais. Sua frase sobre as feministas até que serviu pra jogar alguma luz sobre seu posicionamento político destas últimas décadas.
Incomodado e perseguido durante a ditadura dos militares, é compreensível que tenha guardado ressentimento. Se apoiou o Lula e o petismo, é porque via nesse movimento a antítese ao regime que lhe havia atazanado a existência. Ele não foi o único a escolher a mesma via pelos mesmos exatos motivos.
Quando foram desvelados o mensalão e, sobretudo, o petrolão, grande maioria dos que haviam visto no lulopetismo, um dia, o polo oposto e o antídoto à ditadura desembarcaram da carruagem, que idealismo tem limite. Chico continuou no comboio.
O imenso poeta e compositor, aliás, não se limitou a apoiar o personagem do ex-metalúrgico. Foi fervente defensor de sua sucessora, a inominável doutora, aquela que, em matéria de prejuízos causados ao povo brasileiro, só perde para o atual ocupante do Planalto.
Evidentemente, posso estar enganado, já que ninguém tem sempre razão. Mas me ficou a forte impressão de que Chico Buarque é daquele tipo de pessoa que, quando abraça uma pessoa ou uma causa, agarra-se a ela com unhas e dentes. Sua dedicação é total; sua fidelidade, canina; seu apego, acrítico. Ele parece incapaz de reconhecer que as vias do coração não devem ser incondicionais. Mais que isso, parece incapaz de admitir que pessoas podem até, às vezes, não ter razão.