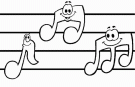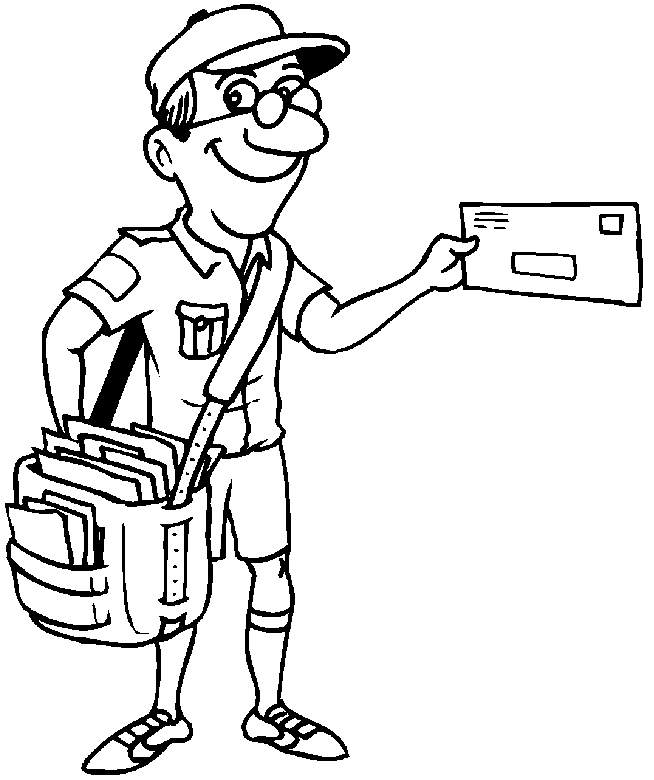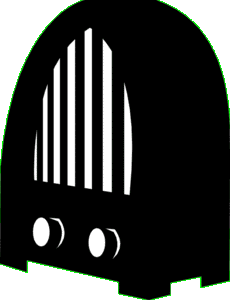José Horta Manzano
ISAURINHA GARCIA
Lá pelo fim dos anos 70, talvez logo no comecinho dos 80, eu estava em São Paulo. Vi anunciado que a Isaurinha Garcia se apresentava por alguns dias num teatro. Nunca a tinha visto, mas sabia, de ouvir falar, que tinha sido uma moça muito bonita. Na minha família, os mais antigos apreciavam a cantora. Fui já predisposto.
Deu muita pena. Vi, sozinha no palco imenso, uma pequena criatura, maltratada pelo tempo, aparentando bem mais que os cinquenta e poucos anos que tinha. Na plateia, meia dúzia de gatos pingados. Ficava a impressão de que aquela velha senhora não estava ali pela glória, mas para granjear alguns trocados.
Ela mais falou que cantou. Era muito gente, a Isaurinha, gente como a gente, desprovida desses ares de diva inatingível que algumas se dão. Sentou-se numa cadeirinha, num canto do palco, e contou um pouco da sua história, num relato simples como aqueles que se faziam antigamente à mesa da cozinha, na hora do chá da noite. Ou do café com leite, para as crianças.

Isaurinha Garcia
CAETANO VELOSO
Até o fim de 1964, tive um professor de música, excelente profissional. Não vou revelar seu nome ― vocês entenderão por quê.
Em 1965, vim para a Europa. Os mais velhos hão de se lembrar, mas aos mais jovens vou contar: mudar-se para a Europa, naquele tempo, equivalia a mudar-se para o planeta Marte hoje em dia. A distância ressentida era bem maior que hoje. Nem se pensava em telefonar, que custava uma fortuna. Não havia internétchi, nem feicibúqui, nem imêiu, nem tevê por satélite. Laços de amizade que não fossem sólidos partiam-se rapidamente.
Durante alguns anos, guardei contacto ― por carta, naturalmente ― com alguns dos amigos e conhecidos que havia deixado no Brasil. Passados dois, três anos, os liames foram-se esgarçando e sobrou somente a família.
Entre as pessoas com quem me correspondi no começo, estava justamente meu professor de música. A cena musical brasileira estava em plena efervescência, com gente do quilate de Elis Regina e Chico Buarque aparecendo. Festivais proliferavam. Foi uma época muito criativa. Meu amigo músico me mandou algumas partituras de artistas novos, que eu desconhecia. Entre eles, havia Roda Viva, composta por Chico Buarque. O impresso veio com uma anotação à mão: «Êste é dos bons!!!», com acento diferencial no êste, como se escrevia à época.
Uma partitura de Tropicália, de Caetano Veloso, veio também. Aquela trazia observação manuscrita menos airosa: «Êste, em minha opinião, é pilantra!!!». Como eu tinha grande admiração pela erudição de meu professor, achei que ele devia ter razão.
Não foi senão uns dez anos mais tarde que, de volta ao Brasil, pude conhecer mais a fundo a obra dos dois jovens artistas, Buarque e Veloso. Tenho de admitir que meu mestre não estava tão errado assim. O Chico era realmente «dos bons», enquanto o outro nunca me entusiasmou.
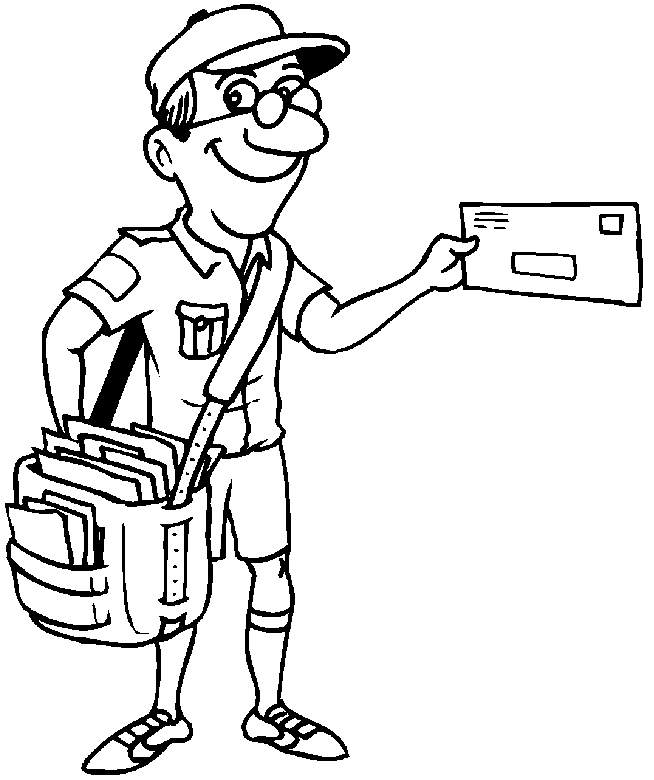
Quando o carteiro chegou
MENSAGEM (Quando o carteiro chegou)
Sempre achei ― e continuo achando ― que o melhor do Brasil não é seu povo, nem seu clima, nem suas belezas naturais, nem sua língua. O que mais me encanta em Pindorama é a música. Antes da internet, a cada viagem que fazia ao Brasil, eu trazia de volta uma boa quantidade de discos. Primeiro, foram aquelas bolachonas pretas de vinil. Depois, apareceram os cds, bem mais práticos e menos volumosos. Hoje em dia, não precisa mais. Meu rádio recebe o sinal por internet, o que me dá acesso a milhares de estações, desde a Mongólia até a Patagônia.
Outro dia estava sintonizado na Rádio Nacional de Brasília. É uma emissora chapa-branca, daquelas que chamam a presidente de presidenta. Mas tem uma excelente programação, quase exclusivamente musical. Uma coisa compensa a outra. Lá pelas tantas, uma música me pareceu familiar. Não coincidia exatamente com o que eu tinha em memória, mas a parecença era indiscutível.
Não precisei pensar muito. Logo identifiquei que aquilo que estavam tocando era uma quase cópia do samba-canção Mensagem, composto pelos cariocas Cícero Nunes e Aldo Cabral e gravado por Isaura Garcia, na flor de seus 23 aninhos, em 1946. Esperei até o fim da cantoria do rádio. Queria ficar sabendo que música era aquela e quem se apresentava como autor. No fim do bloco, o locutor informou: «Pé do meu samba, de autoria de Caetano Veloso, cantada por Mart’nália». Pra você ver.

Envelope… sem sobrescrito
PLÁGIO
Plágio? É difícil dar um veredicto definitivo. Apesar dos mais de 60 anos que separam as duas composições, a linha melódica e a harmonia, pelo menos nos primeiros compassos, é idêntica. É possível até que a velha Mensagem já tenha caído no domínio público deixando, assim, de ser protegida pela legislação sobre direito autoral.
Há atitudes que, embora lícitas, fogem à ética. O senhor Veloso, ao ressuscitar o velho samba-canção, poderia ter revelado a origem de sua inspiração, a parceria póstuma. Teria sido bem mais simpático e não faria mal a ninguém. Ademais, evitaria chocar os ouvidos dos que ainda se lembram «daquela do carteiro». Será que meu bom professor de música tinha razão?

Quem quiser comprovar a estonteante semelhança, que faça uma visitinha ao youtube, preste atenção e compare:
Mensagem
(a partir do ponto 0:10)
Pé do meu samba
(a partir do ponto 0:33)
 Contribuiu para isso sua internacionalização comandada pelos americanos que, no curto espaço de cinco anos, a incluíram em cinco filmes: Alô amigos (1943), A filha do comandante (Thousands Cheer, 1943), Escola de sereias (Bathing Beauties, 1944), Kansas City Kitty (1944) e Copacabana (1947). Neste último, foi cantada por Carmen Miranda.
Contribuiu para isso sua internacionalização comandada pelos americanos que, no curto espaço de cinco anos, a incluíram em cinco filmes: Alô amigos (1943), A filha do comandante (Thousands Cheer, 1943), Escola de sereias (Bathing Beauties, 1944), Kansas City Kitty (1944) e Copacabana (1947). Neste último, foi cantada por Carmen Miranda.