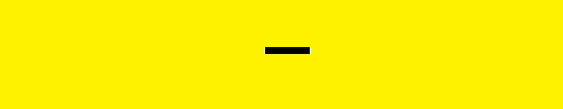José Horta Manzano
Você sabe por que razão se diz coruja daquele que mostra grande orgulho do que criou ‒ criança, obra de arte ou qualquer outra coisa? A coruja, em muitas civilizações, é associada à sabedoria. A analogia vem certamente do fato de parecer ter os olhos arregalados, como se sempre prestasse grande atenção. Mas que tem a coruja que ver com sentimento de orgulho maternal?
 Pois a relação é fruto de um poema escrito pelo francês Jean de La Fontaine, que viveu de 1621 a 1695 e nos legou dezenas de historietas todas escritas em versos. Com requintado linguajar, ele utilizou esse meio para transmitir ensinamento moral. Nas fábulas de La Fontaine, tolos, orgulhosos, avarentos, invejosos, soberbos e toda espécie de malvados levam sempre uma lição, quando não um castigo.
Pois a relação é fruto de um poema escrito pelo francês Jean de La Fontaine, que viveu de 1621 a 1695 e nos legou dezenas de historietas todas escritas em versos. Com requintado linguajar, ele utilizou esse meio para transmitir ensinamento moral. Nas fábulas de La Fontaine, tolos, orgulhosos, avarentos, invejosos, soberbos e toda espécie de malvados levam sempre uma lição, quando não um castigo.
Uma das fábulas está na origem de nossa expressão mãe coruja. Chama-se «L’aigle et le hibou» ‒ A águia e a coruja. Conta a história de duas aves de rapina: uma águia e uma coruja. Cansadas de estar sempre brigando, resolveram fazer as pazes e nunca mais atacar os filhotes uma da outra. Apreensiva, a coruja perguntou à águia se ela conhecia seus filhotinhos, que ainda viviam no ninho. A águia respondeu que não, não os conhecia.
A coruja se entristeceu e temeu pela vida dos filhinhos. A águia então pediu à coruja que descrevesse os rebentos. Sabendo como eram, caso os encontrasse, não tocaria neles. A coruja, vaidosa, deu dos filhos imagem encantadora. Disse que eram uma fofura, belos, bem feitos, os filhotes mais lindos do mundo.
 Pouco tempo depois, a águia voava à cata de alimento. Estava com fome. De repente, encontra um ninho com aves novinhas e sem defesa. Observando mais de perto, descobriu que os bichinhos eram muito feios. Pareciam monstrinhos repugnantes, de aspecto sinistro, que soltavam um ruído estranho mais parecido com grunhido de porco. Pensou: «Não, estes horrorezinhos não podem ser os filhotes da coruja.» Ato contínuo, fez deles seu almoço.
Pouco tempo depois, a águia voava à cata de alimento. Estava com fome. De repente, encontra um ninho com aves novinhas e sem defesa. Observando mais de perto, descobriu que os bichinhos eram muito feios. Pareciam monstrinhos repugnantes, de aspecto sinistro, que soltavam um ruído estranho mais parecido com grunhido de porco. Pensou: «Não, estes horrorezinhos não podem ser os filhotes da coruja.» Ato contínuo, fez deles seu almoço.
Ao voltar ao ninho, a pobre coruja só encontrou as patas dos filhotes. Clamou aos céus que castigassem o malvado que tinha feito aquilo. Foi quando alguém lhe disse que tinha mais é de culpar a si mesma por ter dado à águia uma descrição dos filhinhos que não correspondia à realidade.

O português incorporou a expressão mãe coruja para designar aquela que sente enorme orgulho da própria progenitura. É curioso notar que o francês, língua na qual foi escrita a fábula, não fez a mesma coisa. A coruja continua sendo símbolo de sabedoria, nada mais. A expressão que mais se aproxima, embora não tenha significado idêntico, é «mère poule» (= mãe galinha). Em francês, indica a mãe possessiva, superprotetora. Em português, convém não utilizar a tradução literal. Periga ofender.

Advanced
Para curiosos renitentes, aqui está a versão original da fábula. A linguagem elaborada e rebuscada demanda bom conhecimento da língua.
L’aigle et le hibou
Jean de La Fontaine (1621-1695)
L’aigle et le chat-huant leurs querelles cessèrent,
Et firent tant qu’ils s’embrassèrent.
L’un jura foi de roi, l’autre foi de hibou,
Qu’ils ne se goberaient leurs petits peu ni prou.
«Connaissez-vous les miens?» dit l’oiseau de Minerve.
«Non, dit l’aigle.» «Tant pis», reprit le triste oiseau;
«Je crains en ce cas pour leur peau;
C’est hasard si je les conserve.»
«Comme vous êtes roi, vous ne considérez
Qui ni quoi ; rois et dieux mettent, quoi qu’on leur dit,
Tout en même catégorie
Adieu mes nourrissons, si vous les rencontrez.»
«Peignez-les-moi, dit l’aigle, ou bien me les montrez;
Je n’y toucherai de ma vie.»
Le hibou repartit: «Mes petits sont mignons,
Beaux, bien faits, et jolis sur tous leurs compagnons:
Vous les reconnaîtrez sans peine à cette marque.
N’allez pas l’oublier; retenez-la si bien
Que chez moi la maudite Parque
N’entre point par votre moyen.»
Il advint qu’au hibou Dieu donna géniture.
De façon qu’un beau soir qu’il était en pâture,
Notre aigle aperçut d’aventure,
Dans les coins d’une roche dure,
Ou dans les trous d’une masure
(Je ne sais pas lequel des deux),
De petits monstres fort hideux,
Rechignés, un air triste, une voix de Mégère.
«Ces enfants ne sont pas» dit l’aigle «à notre ami.
Croquons-les.» Le galant n’en fit pas à demi;
Ses repas ne sont point repas à la légère.
Le hibou, de retour, ne trouve que les pieds
De ses chers nourrissons, hélas!, pour toute chose.
Il se plaint et les dieux sont par lui suppliés
De punir le brigand qui de son deuil est cause.
Quelqu’un lui dit alors: «N’en accuse que toi,
Ou plutôt la commune loi
Qui veut qu’on trouve son semblable
Beau, bien fait, et sur tous aimable.
Tu fis de tes enfants à l’aigle ce portrait:
En avaient-ils le moindre trait?»