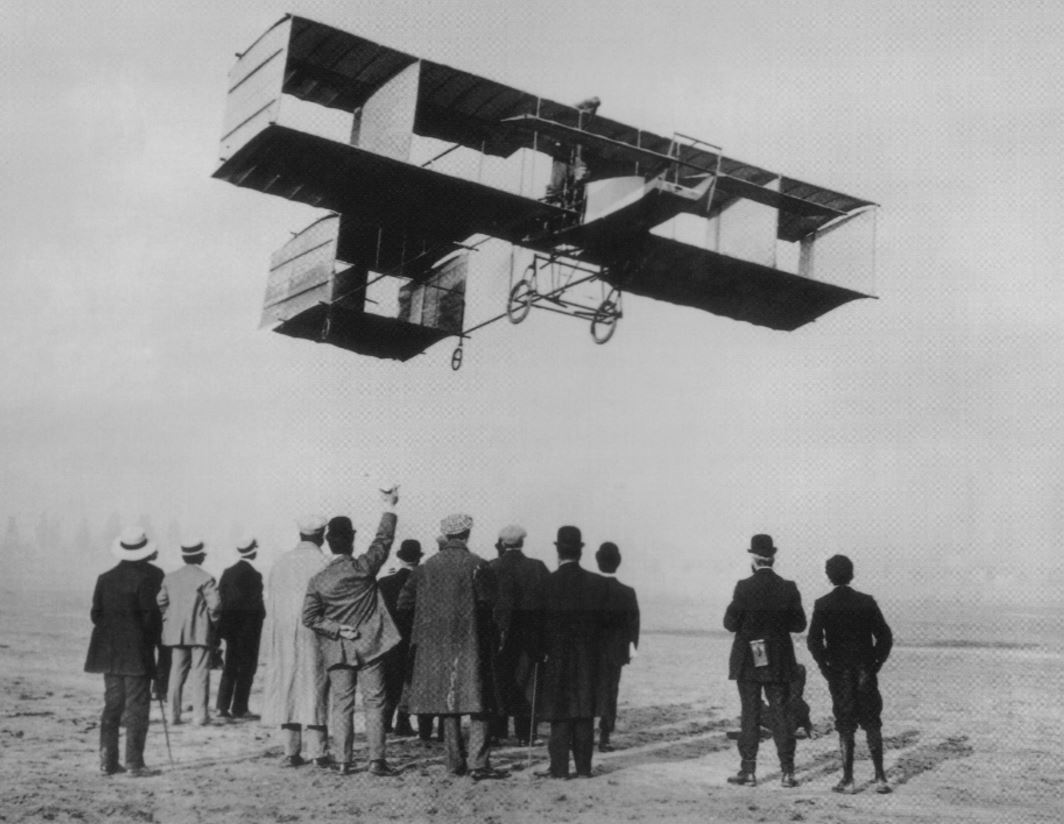A criatividade do brasileiro já foi maior. No século passado, conceitos novos eram quase sempre traduzidos ou adaptados para nossa maneira de falar. O simples mixer deu liquidificador, incômoda palavra de seis sílabas que se enraizou na língua e não se foi. Já hoje, um air fryer se diz air fryer mesmo, cru e com casca. Ninguém se dá mais ao trabalho de traduzir nem de adaptar.
Hot dog, iguaria conhecida no mundo inteiro com o nome original, virou cachorro quente entre nós, numa tradução jocosa e genial. Sandwich, que guardou a grafia original por toda parte, se naturalizou como sanduíche em nossa terra. O mesmo aconteceu com as francesas maillot, embrayage e capot, que se tornaram respectivamente maiô, embreagem e capô.
Apesar da aparente preguiça que atinge os habitantes de uma Pindorama (que, acreditem, já foi morna e úmida e não escaldante como atualmente), por vezes uma centelha ilumina a penumbra e nos brinda com uma palavra nova. E original.
É o caso de trisal, que dá nome a uma curiosa composição conjugal que, na minha opinião, é fadada a ter vida curta. Falo da composição conjugal, não da palavra em si. A palavra pode até ser que continue em uso por décadas, mas não acredito que um trisal aguente décadas.
Trisal há de ser conceito recente, visto que meu dicionário Houaiss, que já soprou 23 velinhas, não abona esse termo. É palavra que tem seu charme, goste-se ou não. Imagino que seja produto nacional – pelo menos, nunca vi termo correspondente em outra língua. Como palavra de difícil tradução, entra para o mesmo balaio que saudade e conceitos de igual jaez.
Estes dias, o trisal, deixou o campo lúdico para sapatear no tablado da injúria. A ofensa pessoal gratuita é um vício feio e inútil que, incentivado pelo imediatismo da internet, foi plenamente adotado, não sei por que razão, pela turma da extrema direita. Parlamentares que, vivendo à custa de obesos salários pagos pelo povo, se autorizam criar, do nada, mensagens insultantes e mandá-las ao ar na esperança de “lacrar” não devem ser mantidos no cargo.
Tanto faz que sejam deste ou daquele partido, que se ajoelhem diante deste ou daquele líder, que professem este ou aquele credo. Tanto faz. De elementos assim, nosso Congresso não precisa. Estão ali ocupando uma poltrona que poderia ser confiada a um cidadão mais sério, de espírito menos adolescente. Lugar de gente assim é no boteco, não no Parlamento. Em casos mais graves, que sejam mandados para a Papuda.
A esta altura, percebo que não dei detalhes do caso. É que imaginei que meus espertos leitores já estivessem a par. Trata-se das estrepolias de um deputado de nome Gayer, apoiador do capitão Bolsonaro, afiliado ao PL. A história começou com a estupidez dita por um Lula que atualmente se debate num atoleiro de maionese. A fala de Luiz Inácio, sem ser uma ofensa pessoal, era de um machismo primitivo, não condizente com os dias atuais. O deputado Gayer aproveitou a deixa para descer alguns andares na graduação da baixaria. Sugeriu que se formasse um trisal entre dois parlamentares homens e a presidente do PT. E deu nome aos bois!
Talvez algum fanático seguidor tenha achado graça. Os componentes do trisal mencionados por Gayer não sorriram. Para azar do deputado ofensor, um dos personagens de sua fantasia é o presidente do Congresso, senador Alcolumbre. Furioso, este último prometeu denunciar o desbocado personagem ao Conselho de Ética com vistas à cassação do mandato de Gayer por quebra de decoro parlamentar.
Torço para que o procedimento chegue a bom porto e que o deputado seja cassado. Será bom como exemplo. Quem sabe, depois disso, os parlamentares pensarão duas vezes antes de discursar no plenário debaixo de uma peruca amarela, como fez outro dia um fiel acólito do capitão.