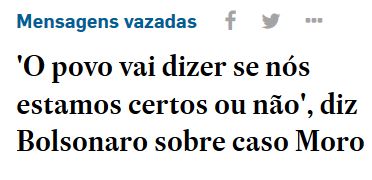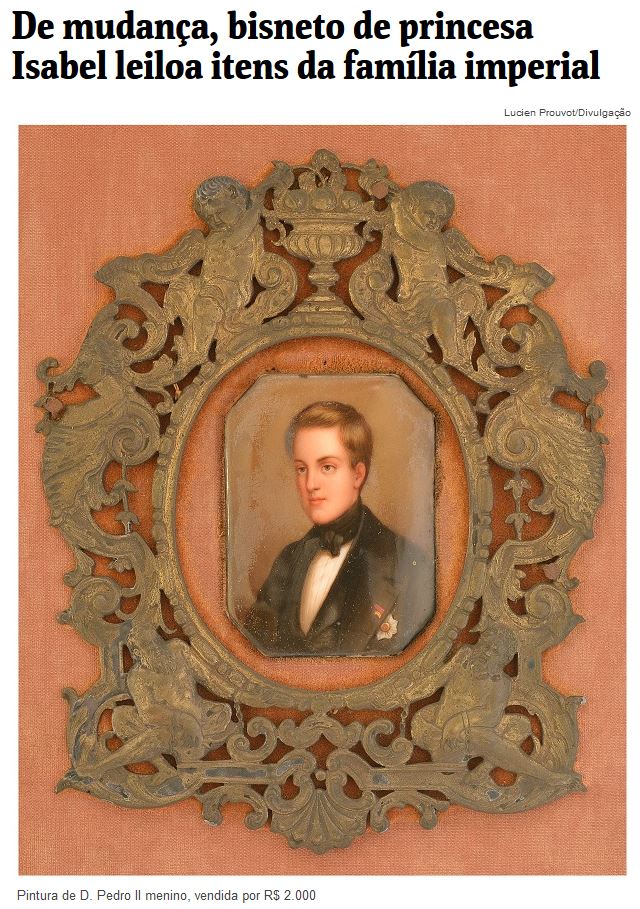Em meio à avalanche diária de informações, certos fatos passam despercebidos não por serem irrelevantes, mas por nos parecerem normais. A naturalização da anormalidade é um fenômeno perigoso, especialmente quando ela envolve a guerra. Um exemplo disso pode ser encontrado no recorte de jornal estampado logo aqui acima:
“Putin faz maior ataque aéreo e acelera nova ofensiva; Kiev alveja base.”
À primeira vista, parece apenas mais uma atualização sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas, num olhar mais atento, salta aos olhos uma assimetria sutil — e reveladora.
A frase começa com a menção direta ao nome de um líder: “Putin faz maior ataque aéreo”. Não se trata da Rússia, do Exército Russo ou de uma decisão coletiva. É Putin, em pessoa. A manchete atribui a ele, com todas as letras, a responsabilidade direta por uma ação militar de grande escala. Já no segundo trecho, “Kiev alveja base”, a linguagem muda. A capital ucraniana é mencionada de forma impessoal, quase geográfica. O nome de Zelenski, presidente da Ucrânia, sequer aparece.
Por que isso acontece? A resposta talvez seja mais simples — e mais incômoda — do que parece. O mundo já naturalizou a figura de Vladimir Putin como uma espécie de senhor absoluto da guerra, alguém que age conforme a própria vontade, sem freios internos ou externos. A guerra na Ucrânia, nesse imaginário coletivo, não é entre dois Estados, tampouco entre dois projetos políticos. É uma guerra iniciada e sustentada pela vontade de um único homem. E essa percepção está embutida até mesmo nas estruturas linguísticas mais banais, como a escolha de palavras em uma manchete de jornal.
Essa assimetria não é apenas jornalística — ela é política, simbólica e moral. Ao personalizar os ataques russos em Putin, a narrativa constrói uma figura de vilão clássico, quase caricatural. E ao impessoalizar os ataques ucranianos, retira de Zelenski a responsabilidade ativa no conflito, ainda que defensiva. Assim, Putin aparece como o agente solitário da destruição, enquanto Kiev (ou a Ucrânia) surge como vítima reativa, um ente quase sem rosto, que tenta apenas sobreviver.
Não se trata aqui de questionar quem é o agressor e quem é a vítima — para observadores de boa fé, a distinção é clara e óbvia. Trata-se, sim, de observar como, mesmo em detalhes aparentemente neutros, a linguagem revela o quanto já aceitamos certas premissas. A guerra, afinal, não deveria depender da vontade de um homem só.
Sob o risco de ressuscitar os tempos sombrios de Hitler e Stalin, o fato de essa banalização soar hoje natural deveria, no mínimo, nos preocupar.