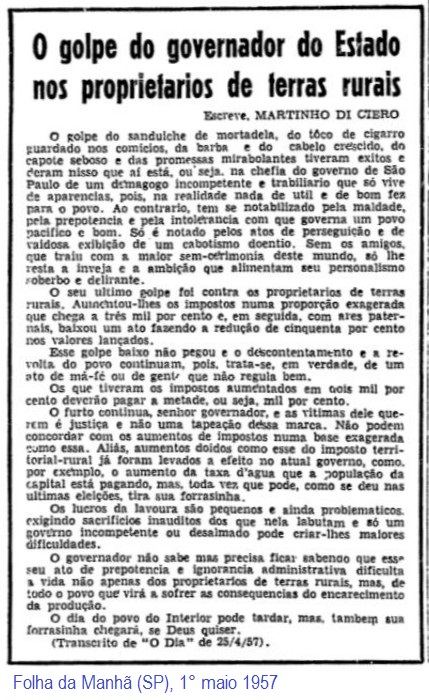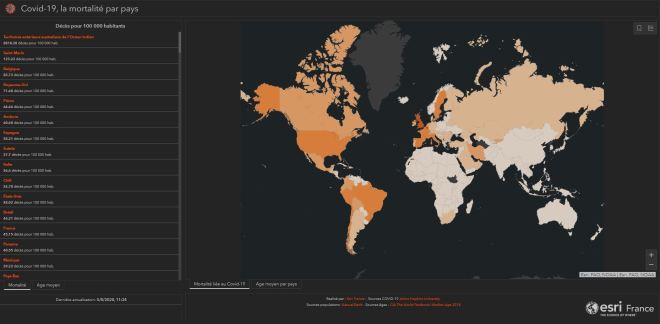José Horta Manzano
Aqui no mundo em que vivo, nem tudo funciona exatamente como no Brasil. A principal diferença, mãe de todas as outras, é o nível de educação cívica. Considerando-se que o Brasil é grande, populoso e atingiu nível razoável de industrialização, é surpreendente que o povo ainda viva como se estivéssemos nos tempos coloniais, cada um por si, num mundo em o mais forte vence, e a garrucha faz a lei. Há algo de anacrônico aí. As dimensões do país e sua economia não combinam com esse embotamento social.
Muita coisa me parece fora de esquadro. Uma delas, problema que ressurge frequentemente no noticiário, é tão fácil de resolver, que eu me pergunto o que estão esperando para modificar as regras. Trata-se de compra de imóvel «em dinheiro vivo». A toda hora, um caso desse tipo deixa todos desconfiados. Mas fica tudo por isso mesmo.
A pergunta é: por que razão um cidadão dispensaria o sistema bancário para pagar com maços de dinheiro? Há nessa opção algo de muito estranho. Se esse tipo de operação ocorresse em outras terras, levantaria uma bandeirinha vermelha e incitaria o fisco a fazer uma devassa na contabilidade dos dois: vendedor e comprador. No Brasil, isso não parece comover ninguém.
Na maior parte da Europa, é simplesmente proibido pagar um imóvel com dinheiro vivo. Tem de ser por via bancária. E tem mais. O vendedor não entrega o dinheiro diretamente ao comprador. O ritual determina que passem por um intermediário; dependendo do país, será um tabelião, um cartório ou um notário. É esse personagem quem recebe o importe em sua conta bancária, retém os impostos devidos ao fisco e entrega o montante líquido ao comprador. Em seguida, cabe a ele notificar o Registro de Imóveis para a averbação do negócio.
Eu me pergunto por que é que não instituem um sistema assim no Brasil. Se for muito complicado, que se proíba pagamento de imóvel em ‘dinheiro vivo’ – já estaria de bom tamanho. Rolos como os que envolvem nosso presidente e seus filhos, por exemplo, desapareceriam.
É verdade que todo bandido é criativo. Acabariam descobrindo outra maneira de lavar, anilar e quarar dinheiro sujo. Mas essa porta, pelo menos, estaria fechada e condenada.
Acho que, lá no alto, ninguém está interessado em resolver o problema. Cá embaixo, esse tipo de traficância é desconhecido, e é por isso que não desperta interesse em ninguém. Afinal, quem é que vai levar malas de dinheiro pra comprar casa?
Portanto, nada há de mudar tão cedo. Enquanto o nível de educação cívica não tiver subido, a lavanderia continua aberta. Só não lava dinheiro quem não tem. Já que a situação atual agrada aos de lá e não atrapalha os de cá, fica tudo como está.
Publicado também no site Chumbo Gordo.