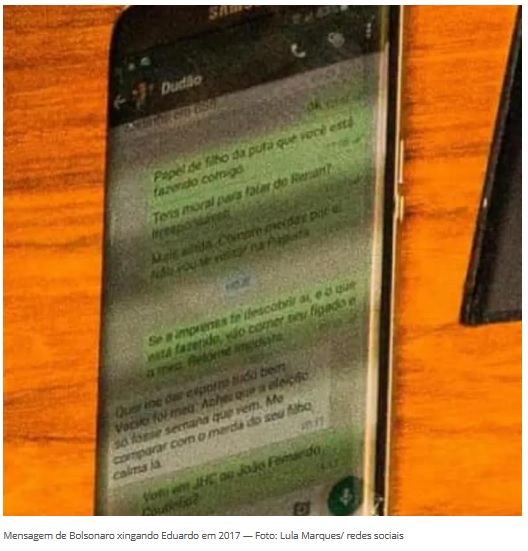De criança, aprendi que filhote de gato que nasce no forno não é biscoito. Pela mesma lógica, filho de brasileiro que nasce no exterior não é estrangeiro.
Embora pareça verdade cristalina, são muitos os que não acompanham esse raciocínio. Vamos olhar de mais perto.
No começo dos anos 1800, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, surgiu a necessidade de definir quem era brasileiro e quem era estrangeiro.
Por falta de método mais sofisticado, optou-se pelo país de nascimento. Ficou combinado que era brasileiro quem tivesse nascido no Brasil – os demais eram considerados estrangeiros. Nosso país não foi o único a chegar a esse ponto de inflexão. Todas as novas nações das Américas passaram um dia por aí. E todas fizeram a mesma opção. Era o lugar de nascimento que determinava a nacionalidade.
O sistema funcionou a contento numa época em que viagens transoceânicas eram incomuns. Quanto ao imigrante, tanto podia requerer naturalização depois de viver um certo número de anos em território nacional quanto podia continuar estrangeiro até o fim da vida. Já no que se refere aos brasileiros, visto que eram praticamente todos nascidos aqui, não havia o que discutir.
A segunda metade do século 20, no entanto, deu uma chacoalhada no vespeiro. Mais e mais, os humanos se lançaram em longas viagens, de trabalho ou de lazer. As três últimas décadas assistiram a um movimento de reversão migratória. Enquanto a chegada de imigrantes praticamente cessou, brasileiros – em maioria jovens – se estabeleceram no exterior, principalmente na América do Norte, na Europa e no Japão.
Essa movimentação trouxe à luz uma realidade para a qual não existiam textos de lei. Com filhos de brasileiros nascendo no exterior, a antiga máxima que dizia “quem nasce no Brasil é brasileiro, os demais são estrangeiros” não funcionava mais. Como acolher os filhotes de nossos conterrâneos nascidos fora?
Cheia de nove horas, a Constituição de 1988 e as leis posteriores titubearam. Não pensaram no drama desses pequerruchos nascidos no exterior. Botaram condições estranhas para que eles fossem reconhecidos como brasileiros. Disseram que os interessados tinham de voltar a viver no Brasil, na maioridade, para só então adquirirem a nacionalidade, o que criou uma legião de pequenos apátridas.
É que, na cabeça do legislador sem experiência internacional, basta nascer na Alemanha (ou no Japão ou na Inglaterra ou na Itália) para receber automaticamente a nacionalidade desse país; assim, os brasileirinhos nascidos fora já contariam com uma nacionalidade. Só que não é desse jeito que funciona. Tirando os países das Américas, não conheço nenhum outro que conceda cidadania automática aos filhos de estrangeiros nascidos no país.
Na Alemanha (ou no Japão ou na Inglaterra ou na Itália), a nacionalidade é atribuída pela lei do sangue. Assim, filho de brasileiro é brasileiro. Diante dessa evidência, o legislador brasileiro concordou em “facilitar” a transmissão da nacionalidade dos pais brasileiros aos filhos nascidos no exterior. A cidadania brasileira é reconhecida “desde que” o recém-nascido seja registrado em repartição brasileira no exterior. A meus olhos, essa exigência é um perfeito absurdo. A condição de transmissão da nacionalidade para uma criança nascida no exterior é uma só: que um dos pais seja brasileiro. Mais nada. Esse “desde que” sobra. Mas ele está na lei até hoje.
É difícil convencer legislador sem experiência internacional. Um dia, quem sabe, chegamos lá.