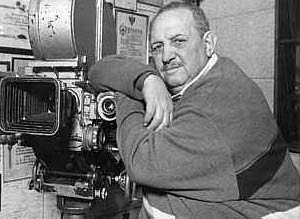José Horta Manzano
Diferentemente de outros países, que procuram atrair as grandes fortunas, a França vem se distinguindo por perseguir os ricos. É paradoxal, mas é assim. A tendência se acelerou desde que o presidente Hollande tomou posse de seu cargo, alguns meses atrás. Uma de suas promessas de campanha ― demagógica a mais não poder ― foi de elevar a 75% (setenta e cinco porcento!) a alíquota de imposto de renda de quem ganha mais de um milhão de euros por ano.
É um raciocínio estreito, pois quem ganha fortunas desse nível sempre encontra meios de defender seu patrimônio. Já faz muitos anos que franceses afortunados vêm se expatriando para escapar a essas taxas escorchantes. São industriais, artistas, esportistas, escritores. Não são ladrões, não cometeram peculato, nem assaltaram o erário. Ganham seu dinheiro dentro da lei.
Quando o Estado retém a metade dos ganhos de certos cidadãos, já está exagerando. Quando chega a alíquotas de 75%, já não estamos falando mais de imposto. O nome é outro: confisco.
Faz anos que franceses ricos já estabeleceram seu domicílio fiscal no estrangeiro. Alain Delon, Charles Aznavour, Alain Prost, Johnny Hallyday, Marie Laforêt são os mais conhecidos. Mas há muitos e muitos outros de quem se fala menos, por não fazerem parte do mundo do espetáculo.
Bilhões de euros escapam, assim, à receita francesa em consequência de uma política míope que, se angaria votos, priva as burras do Estado de recursos mais que polpudos.
O caso mais recente envolve o ator Gérard Depardieu. Pessoalmente, não morro de simpatia por ele. Mas há que separar paixão e razão. O ator decidiu estabelecer-se num vilarejo belga, a alguns passos da fronteira francesa. Essa mudança de residência fiscal indignou o Primeiro Ministro da França, que a descreveu a decisão como «miserável, digna de um pobre tipo».
Como se diz na França, Depardieu não costuma «guardar a língua no bolso», não é o tipo de pessoa que leva desaforo pra casa. De bate-pronto, resolveu dar o troco ao desajeitado ministro. Numa carta aberta publicada este domingo, ele se insurge contra o insulto de que foi vítima. E, num arrebatamento, declara sua intenção de renunciar à cidadania francesa. Disse também que, em 2012, pagou impostos equivalentes a 85% de seus ganhos. Declarou ainda que vai-se embora porque se dá conta de que seu país abomina e sanciona o sucesso, a criação, o talento e a diferença.
O prefeito do vilarejo onde Depardieu comprou sua residência está rindo à toa.