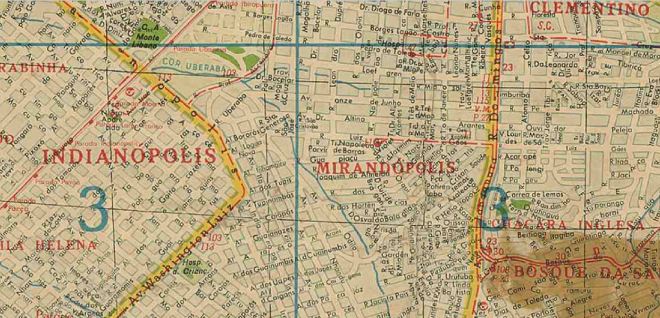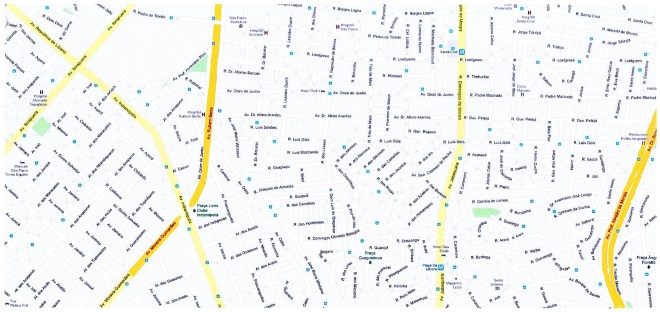José Horta Manzano
Domingo 10 e segunda-feira 11 de março, os habitantes das Ilhas Falkland/Malvinas estão sendo chamados às urnas. Devem responder se querem que seu arquipélago continue a fazer parte do Império Britânico. Prevê-se que o sim vença por esmagadora maioria.
A intenção do Reino Unido é reforçar sua posição para fazer face às recorrentes reivindicações argentinas sobre o território. Um sim maciço permitirá aos britânicos proclamar que, além de já terem a posse de facto, os ilhéus querem manter o statu quo ante bellum, o estado em que as coisas estavam antes da guerra. Em outras palavras, nem os donos da terra, nem muito menos seus habitantes desejam que a situação mude.
As Falkland/Malvinas são um caso peculiar. A história daquele pedaço de terra desolado, frio, sem árvores, batido pelos ventos já começa tão enevoada como o clima. Américo Vespúcio em pessoa, ingleses, espanhóis e até holandeses são apontados como primeiros visitantes das ilhas. Provavelmente não saberemos nunca quem foi o pioneiro. Pouco importa.
Nos primeiros 250 anos, ninguém se interessou em providenciar envio de população para ocupar e colonizar as ilhas. Os estabelecimentos europeus não ultrapassaram o estágio de simples presença militar.
Os primeiros a tentar implantar uma colônia, com famílias, foram os franceses, já na segunda metade do século XVIII. A colônia não prosperou, mas o nome ficou. Grande parte dos colonos vinha do vilarejo francês de Saint-Malo, na região da Bretanha. Os de Saint-Malo são chamados «malouins». Daí terem rebatizado as ilhas como «malouines». Os espanhóis gostaram da ideia e logo hispanizaram para «malvinas».
Longe de tudo e de todos, impróprio para a agricultura, o território foi abandonado por hispânicos e por franceses. No início do século XIX, as colônias sul-americanas foram, uma após a outra, declarando sua independência da coroa espanhola. O Império Britânico, potência dominante, entendeu que a maneira mais eficaz de guardar uma presença estratégica no Atlântico Sul seria instalar uma colônia e povoar aquelas ilhas desoladas que não interessavam ninguém.
O plano tornou-se realidade a partir de 1833. Podemos, assim, dizer que, salvo alguma incursão de caráter militar, os primeiros e únicos habitantes do território são de origem britânica. Estão lá há 180 anos, o que equivale a cerca de uma dezena de gerações.
Quem é o dono? Será o que reivindica sua posse baseado em legado histórico ou documental? Ou será o povo que aí nasceu, tirou seu sustento da terra, aí se reproduziu e criou filhos, num ciclo que já dura quase dois séculos?
A resposta não é simples nem evidente. Se fosse tão fácil, a tensão que eletriza o Oriente Médio seria bem mais branda. Que dizer de Gibraltar, um enclave inglês em território espanhol? E com Ceuta e Melilla, enclaves espanhois em território marroquino, como é que ficamos? E que dizer então de Büsingen, pequeno município alemão encravado na Suíça, cercado de território helvético por todos os lados?
Não tenho a resposta, muito menos a solução. Mas tendo a levar em conta o princípio do usucapião. Seja quem for o dono da terra abandonada, seja qual for o motivo do abandono, uma ocupação continuada pode transformar o «invasor» em dono. A meu conhecimento, não há legislação internacional regulando esse assunto. É complexo e delicado demais.
No fundo, o que continua valendo é a lei do mais forte.
.
Quem se interessar pode consultar o site do Telegraph de Londres sobre o plebiscito. O artigo traz vídeos de interessantes entrevistas com ilhéus. Aqui.