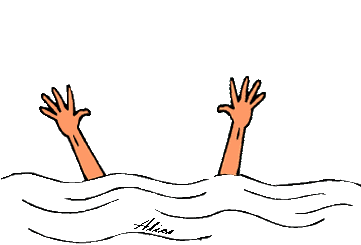Sylo Costa (*)
Meu saudoso pai, exemplo de sensibilidade, dizia sempre que “a felicidade está diretamente ligada à ignorância”. Não à ignorância da brutalidade, mas àquela ignorância do não saber. Papai era um cearense “retado”. Médico, formado na Bahia, terminou o curso com uma bolsa de estudos que lhe foi dada pelo Ministro da Educação Francisco Campos, que atendeu um pedido da turma de 1932, composta, de acordo com o convite de formatura em meu poder, por 73 formandos: 38 brancos, 17 negros, 14 baianos e quatro mulheres.
Bons tempos aqueles, em que não havia a perversidade da discriminação e podia-se brincar assim. Seu anel de grau foi presente dos colegas. Será que a sociedade em que vivemos comportaria esse modus vivendi? Hoje, quem chamar um negro de “negão” está discriminando o sujeito e pode ser processado na forma da lei, ou seja, aquilo que podia ser um tratamento carinhoso é crime hediondo. Pode-se xingar de fdp, ladrão, cavalo, égua etc. Mas bicha ou macaco é discriminação, e lá vai o perigoso criminoso para a cadeia.
Eu tinha dois amigos em Salinas que atendiam pelo nome de Negão. Um morreu, o outro está vivo e reside em São Francisco, lugar na barranca do Velho Chico, abençoado por Deus e bonito por natureza. Há muito não o vejo e não sei como chamá-lo quando o encontrar. Não que ele não entenda, mas outro “aragaço”(1) que, porventura, esteja por perto certamente vai reparar. O país está assim: um saco.
O Congresso Nacional, composto por homens, mulheres e muita gente boa, religiosos ou não, bichas e dissimulados, mensaleiros e ladrões comuns, está que é uma sensibilidade só… Agora, estão discutindo sobre maioridade. Uns querem que ladrõezinhos de 17 anos sejam tratados como “de menor”, outros mais pés no chão, não. Tanto faz bala 22 ou 38 para fazer defunto. Mas não.
Os desocupados de ongs, direitos humanos e outros modismos enchem o saco de qualquer um. Ô paiseco de… deixa prá lá. Se eu não estivesse com “idade avançada”, me mudaria para qualquer outro lugar onde não houvesse petistas de todas as espécies e padrecos comunistas disfarçados de intelectuais pregando aos incautos…
Agora, para completar o rol de sensibilidades de que estamos possuídos, alguns legisladores, pessoas que se dizem normais, querem tornar “crime hediondo” qualquer manifestação que expresse simpatia ou desejo pela volta dos militares, ou seja, mais ou menos o que acontece na Alemanha, onde não se pode, por outras razões, discutir sobre o Holocausto. Nossa liberdade de expressão está condicionada ao modismo desses brasileirinhos sensíveis que têm medo de polícia e de lobisomem…
Um dos sentimentos que mais me maltrata é a decepção, e eu vivo hoje, como brasileiro, decepcionado com a vida, não a minha vida, mas a vida vivida no Brasil, o que me faz lembrar um salinense ranzinza que, cerrando os dentes, dizia: “Ô Sylo, qué sabê? Se lugá fô lugá, isso aqui num é um lugá”. Também acho…
(*) Sylo Costa é homem político mineiro. Assina coluna semanal no jornal O Tempo.
(1) No norte de Minas Gerais, dá-se o nome de aragaço aos albinos.