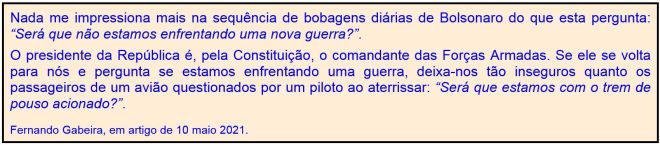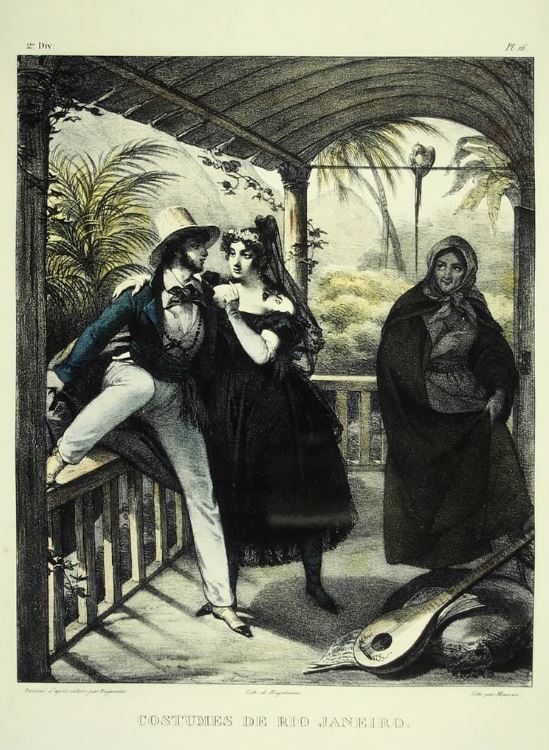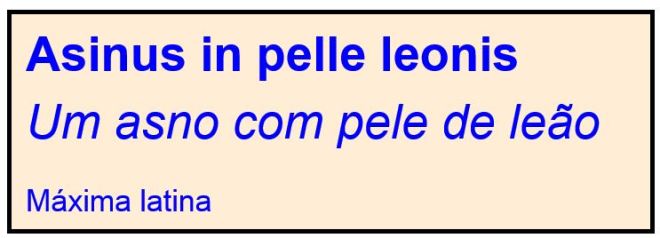Perdigotos e comorbidades
José Horta Manzano
É interessante observar como certas palavras dormem um sono de décadas no aconchego dos dicionários para um dia, de repente, despertar e entrar de supetão na linguagem do quotidiano.
De criança, aprendi o significado de perdigoto. Eu tinha um tio muito aplicado, daquelas pessoas que gostam de usar a palavra mais adequada a cada caso. Me ensinou que gente que “fala cuspindo” solta perdigotos. De lá pra cá, acho que nunca mais ouvi alguém pronunciar essa palavra. Mas ela ficou num cantinho da memória esses anos todos.
É bem mais recente o dia em que fui apresentado à palavra comorbidade. Fora de períodos de pandemia, ela está frequentemente ligada à saúde de quem já tem idade – ou que já “dobrou o Cabo da Boa Esperança”, como se dizia antigamente. Conheci essa palavra em francês. Por aqui se diz comorbidité, com uma sílaba extra depois do “bi”, numa excelente ilustração daquela pergunta: por que fazer simples, se complicado também funciona?
Curioso, resolvi fazer uma pesquisa sobre o uso da palavra comorbidade nos últimos cem anos. A Folha de SP oferece um bom instrumento para esse tipo de busca. Quando se está atrás de uma palavra, de um fato, de um nome, pode-se perscrutar todas as edições do jornal da fundação até hoje.
Fiquei sabendo que, de 1921 até 1992 (71 anos), não há nenhuma menção a essa palavra. Nada, niente, zerinho. Entre 1993 e 2019, talvez porque o jornal tenha começado a tratar temas mais especializados, ela aparece 50 vezes. Agora, nos nove meses que vão de janeiro a setembro de 2020, ano da pandemia, comorbidade foi mencionada 223 vezes. Não pesquisei perdigoto, mas imagino que o resultado deva ser equivalente.
Fiquei comovido com a história desse ator que morreu de covid aos 42 anos. Não o conhecia, não é do meu tempo. Mas percebo, pela torrente de reações, que devia ser muito apreciado. Certamente era talentoso.
Seu drama devia servir de alerta a nossa juventude que, talvez obedecendo ao temerário incentivo do capitão, desdenha os cuidados básicos para evitar apanhar o vírus. O caso Paulo Gustavo prova que um indivíduo jovem, enérgico, saudável e sem comorbidades pode contrair uma forma severa de covid, cuja evolução o levará ao túmulo.
Sabemos todos que a sociedade brasileira flutua num oceano de desigualdades. Mas poucos são os doentes que têm o privilégio de ser atendidos num hospital de primeira linha. Como é que funciona lá nos cafundós?
Tenho certeza de que há imensa subnotificação de casos de covid. Deve haver um batalhão de jovens que apanharam a doença e estão morrendo em casa, sem atendimento, sem entrar nas estatísticas. Dado que o que está longe dos olhos está longe do coração, não saberemos nunca quantos terão vivido esse drama.
Meu jovem leitor, não durma no ponto! O país não precisa de heróis anônimos, precisa do potencial de que você dispõe. Fique esperto e.. fique vivo!
Vamos torcer para que tanto comorbidade quanto perdigoto voltem logo para o agasalho dos dicionários. E que de lá não escapem tão cedo.
Frase do dia – 516
O destino de Pazuello
José Horta Manzano
Não acredito. Tirando esposa e família próxima, não acredito que alguém possa estar ‘preocupado’ com o destino do General Cloroquina. No fundo, no fundo, o que se quer mesmo é a prisão do capitão. Na impossibilidade, a do Pesadelo já serve de aperitivo e advertência.
O chefe não perde por esperar. A hora dele vai chegar um dia. Se chegou para um Lula, por corrupção passiva, por que não haveria de chegar para um Bolsonaro, corruptor ativo?
Apavorado
José Horta Manzano
“– A CPI é um vexame, só se fala em cloroquina!”, exclamou o capitão.
“Queria que falasse de quê?”, perguntamos nós, “do aumento da população de jacarés no Pantanal?”
A Comissão foi instalada exatamente para avaliar os estragos cometidos por Sua Excelência desde o início da pandemia. É natural que fale de cloroquina. Ao final dos trabalhos, o capitão ainda periga tomar um processo por charlatanismo e exercício ilegal da medicina.
De buldogues e coleiras
José Horta Manzano
Você sabia?
Nos desenhos animados, cachorro feroz é geralmente representado como um buldogue de dentes arreganhados e com uma coleira salpicada de pontas de metal. Fica a impressão de que os dentes e a coleira são apenas efeitos cênicos pra reforçar a ferocidade do animal. Quanto aos dentes, isso é verdade. Mas no caso da coleira, a história é outra.
Desde a Antiguidade, o homem tem utilizado o cão para acompanhá-lo na caça e principalmente para tomar conta do rebanho. Um dos grandes perigos que o cão corre é ser atacado por seus primos selvagens, os lobos, que costumam atacar mordendo na garganta.
Já na Grécia antiga, os pastores tiveram a ideia de acrescentar pregos à coleira dos cães de guarda para protegê-los contra ataque de lobos.
Em zonas montanhosas da Europa onde os lobos estão presentes até hoje, os pastores põem esse tipo de coleira no cachorro que cuida do rebanho.
Os velhinhos da ponte
José Horta Manzano
Pontus e Ola Berglund são gêmeos idênticos, tão parecidos que a gente tem dificuldade em saber quem é quem. Têm 73 anos. Nasceram e foram criados em Gotemburgo, a segunda cidade mais populosa da Suécia. Moram a pouca distância um do outro, questão de meia hora de carro, com uma peculiaridade: um mora na Suécia e o outro na Noruega – separados por uma fronteira.
Esse detalhe nunca os impediu de se ver, visto que fronteira, naquela região do mundo, não é empecilho. Os gêmeos sempre foram muito ligados. Faz tempo que mantêm o hábito de se encontrar uma vez por semana, ora na casa de um, ora na do outro. Desde que se divorciou, Ola se sente muito sozinho e aprecia particularmente esses encontros com o irmão.
No entanto, quando surgiu a pandemia, as regras de passagem da fronteira endureceram e os dois não puderam mais se visitar. Foi quando tiveram a ideia de continuar os encontros semanais com uma pequena diferença: não se encontrariam mais na casa de um ou de outro, mas na fronteira.
Faz mais de um ano que os irmãos se encontram assim. Todas as sextas-feiras às 11h da manhã, chova ou faça sol, os dois se dirigem à velha ponte que liga a Suécia à Noruega e que passa por cima de um dos inúmeros fiordes daquela costa acidentada. Caminham até o meio da ponte e cada um se posiciona a um metro de distância da linha traçada no asfalto marcando a fronteira entre os dois países.
Dessa forma, matam dois coelhos com uma só cajadada: respeitam a proibição de atravessar a fronteira e obedecem à regra de manter dois metros de distância um do outro. Cada um desdobra sua cadeira portátil, sentam-se ambos e passam um bom tempo batendo papo e refazendo o mundo. Lá pelas tantas, cada um tira da mochila sua garrafa térmica, seu sanduíche, e… é hora do lanche.
Os raros carros que passam são conduzidos por motoristas munidos de autorização especial. Às vezes, nossos gêmeos são confundidos com guardas de fronteira, o que os diverte muito. Depois de um ano desse ritual, os dois já estão conhecidos na região. Tem gente que vem só pra conhecer de perto os dois velhinhos da ponte.
Depois do divórcio, Ola vive sozinho na sua cidadezinha norueguesa. Indagado se não lhe fazia falta um contacto físico, um abraço no irmão, respondeu que sim, falta fazia. Mas, quando a vontade aperta, dá um abraço em si mesmo. “Afinal, somos idênticos!”
Quebra de patentes
José Horta Manzano
O assunto do dia na Europa é a perspectiva de quebra de patentes das vacinas contra a covid-19. Quebra de patentes? Dito assim, parece demanda de países do Terceiro Mundo. E é.
De fato, uma centena de nações terceiro-mundistas, que dependem integralmente das vacinas produzidas no estrangeiro, reclama que seja autorizada a quebra de patentes, o que permitirá que laboratórios de países menos importantes produzam os imunizantes sem ter de pagar royalties.
De ontem pra hoje, o que agitou o panorama é o fato de os EUA de Biden se declararem favoráveis ao abandono dos direitos sobre a propriedade intelectual no caso das vacinas contra a covid-19. Enquanto o reclamo vinha de países menores, ninguém dava grande importância. Agora, que os EUA tomaram partido na discussão, o assunto ganhou as manchetes.
Em princípio, não sou favorável à quebra de patentes – nem em matéria médica, nem em nenhuma outra. Atrás de cada registro de propriedade intelectual – que seja a fórmula de uma vacina ou a partitura de um sambinha de obscuro compositor – existe trabalho, estudo, investimento, dedicação. Não me parece justo que, ao final, se mande tudo pro espaço e se deixem os verdadeiros autores chupando o dedo ao relento.
Mas consigo entender Joe Biden, cuja posição vai certamente acabar sendo seguida por muitos países importantes. Vacina contra a covid-19 não é um sambinha despretensioso. Vista a emergência sanitária, ela ultrapassou as paredes dos laboratórios e passou a ser assunto planetário.
O raciocínio é simples. De pouco vai adiantar que o mundo desenvolvido vacine sua população se nada for feito pelos países que, por falta de dinheiro, deixam o povo ao deus-dará, sem vacina e sem futuro. Essas regiões pobres perigam transformar-se em celeiros de novas cepas, criadouros ideais onde o vírus vai se aclimatar e acelerar suas mutações.
A circulação internacional sendo hoje o que é, novas cepas vão continuar sendo importadas de países pobres e vão encontrar populações que, apesar de vacinadas, não estarão protegidas contra novas variantes. Estará assim aberto o caminho para a perpetuação de um vírus endêmico e cada vez mais difícil de erradicar.
Por mais que o assunto desagrade à indústria farmacêutica, a quebra de patentes de vacina anti-covid é, portanto, questão de sobrevivência da humanidade. Assim sendo, é difícil não estar de acordo.
Calendário
Os romanos tinham um método um tanto incômodo de contar os dias. Contavam para trás a partir de três datas: as calendae, que eram o primeiro dia do mês; os idus, que caíam entre o 13 e o 15; e as nonas, o nono dia antes dos idus.
Dessa forma, o 30 de janeiro (naquele tempo, esse mês só tinha 30 dias) era chamado primum dies ante calendas februarium (primeiro dia antes das calendas de fevereiro). O 29 de janeiro era o secundum dies ante calendas februarium, e assim por diante.
Na origem, calendae era a cerimonia em que o sumo pontífice convocava o povo ao Capitólio para anunciar as festas e os sacrifícios do mês. Assim, o termo calendae encerra a ideia de convocar, do latín calāre, procedente do grego καλέω (kaléo), e este, por sua vez, do indoeuropeu keld- ‘gritar’. Esta raiz pré-histórica deu lugar a clamar, que em nossa língua atual é chamar.
Talvez porque os dias antes das calendas ocupavam a maior parte do mês, acabou se chamando calendário o sistema de representação da passagem dos dias, agrupados em unidades superiores como semanas, meses, anos, etc. Ou também a lista de datas em que ocorrem as fases da Lua (calendário lunar).
(*) Ricardo Soca, uruguaio, é linguista e jornalista. Edita um blogue sobre a língua castelhana. A tradução, descompromissada, é deste blogueiro.
Lição de distributivismo
José Horta Manzano
Vamos imaginar uma situação. É um bocado irreal, mas serve para ilustrar o que quero dizer. Digamos que o distinto leitor, ao caminhar no centro da cidade, topa com um grupo de pessoas maltrapilhas, adultos e crianças. Dois homens, que parecem liderar o grupo, estendem a mão. Faz sol, o dia está bonito, você se levantou feliz e de bem com o mundo. Por isso, se dispõe a ajudar. Vasculha a carteira e tira de lá uma nota de 5 reais (ou 10, ou 20, ou 50 – dependendo do nível de generosidade do leitor).
Você estende a nota em direção aos dois, movimenta levemente o braço de um lado para o outro e diz: “Isto é para os dois; não tenho trocado, mas fica metade pra cada um”. Neste ponto, em vez de agradecer, um dos homens retruca: “Ei, moço (ou moça, se for o caso), metade pra cada um não está certo! O companheiro aqui tem dois filhos e eu tenho três. Mereço mais.”
Quem achou que a situação é absurda acertou. Ela é. Pra início de conversa, nos dias atuais, seria imprudente parar na rua diante de um grupo de cidadãos desconhecidos e, ainda por cima, remexer na carteira (ou na bolsa). Porém, há mais importante que isso: as regras básicas da civilidade ensinam que não cabe ao suplicante dar instruções ao socorrista sobre a repartição do auxílio.
Pois esse princípio elementar acaba de ser violado por um ministro de Bolsonaro. Foi na semana passada. Durante coletiva de imprensa organizada pela OMS (Organização Mundial da Saúde), doutor Queiroga, ministro da Saúde do Brasil, lançou um apelo. Falando de vacina anticovid, implorou a todos os países que tivessem doses sobrando que compartilhassem lotes com o Brasil.
Até aí, tudo bem. Pedir, todo o mundo pode. O enrosco vem agora. Petulante, o doutor aproveitou os holofotes para dar instruções aos hipotéticos doadores. Em verdadeira lição sobre distributivismo, acrescentou que “o acesso ao imunizante deve ser proporcional à gravidade da emergência sanitária”. Com isso, quis dizer que o Brasil merece receber mais que os demais, visto que nossa situação é mais embolada.
Tenho dois reparos. Primeiro, como já disse antes, não cabe ao suplicante dar instruções ao socorrista sobre a repartição do auxílio. Esse tipo de arrogância pega mal pra caramba.
Segundo, não se pode esquecer que o governo Bolsonaro – ao qual o ministro serve – não tem perdido ocasião, desde que a pandemia se instalou, para desancar a OMS, difundir notícias falsas sobre ela, acusá-la de ser partidária e de estar a serviço da China. O capitão imitou o comportamento de Donald Trump, seu ídolo, nesse desvario. Só que, agora que Trump se foi, Bolsonaro ficou no mato sem cachorro tendo de implorar à pérfida OMS umas sobras de vacina. Um vexame.
Não tivessem nossos dirigentes sido tão estúpidos e pretensiosos, o planeta inteiro estaria socorrendo o Brasil espontaneamente, como um punhado de países mais civilizados estão fazendo com a Índia. Não precisaria nem pedir, e muito menos ensinar aos socorristas como distribuir as doações.
Pátria voluntária
José Horta Manzano
Em excelente reportagem publicada estes dias, o Estadão esclarece que, desde que foi criado dois anos atrás, o programa “Pátria Voluntária” – coordenado pela senhora Michelle Bolsonaro – já distribuiu 27 mil cestas básicas e 38,5 mil kg de alimentos. Tendo em vista as profundas carências de nossa população, o balanço é meritório.
Só que… o quadro não é tão cor-de-rosa como parece. O programa de assistência da primeira-dama gasta muito mais com propaganda do que com doações. De fato, R$ 9,3 milhões foram utilizados para divulgar o programa, enquanto os assistidos tiveram de se contentar com R$ 5,9 milhões. Note-se que a propaganda não é feita com dinheiro de doações, mas com verba pública – dinheiro saído do bolso do distinto leitor. E do meu.
Para efeito de comparação, é interessante notar que, no mesmo período, uma única ONG, a Ação da Cidadania, doou um volume 50 vezes maior. Só de março de 2020 até agora, foram 14 milhões de quilos de alimentos, que beneficiaram 1,5 milhão de famílias.
Fica a desagradável impressão que o objetivo principal do programa da primeira-dama é a promoção do clã presidencial. O esquema é simples: o dinheiro arrecadado com doações vai para a compra de alimentos, enquanto a portentosa verba de propaganda é garantida com nosso dinheiro. No final, fica assim: nós pagamos, o clã aparece bem na foto e os pobres recebem umas migalhas.
Lembra-se daquele ministro esquisito que, aboletado no Itamaraty, aporrinhou nossas relações exteriores durante dois anos? Ele declarava orgulhar-se de o Brasil (dele) ser um pária internacional, lembra? Ao ver a notícia do programa assistencial de Madame Bolsonaro, li o título com mais rapidez do que meus velhos olhos conseguem acompanhar. Na pressa, tive a nítida impressão de que estava escrito “Pária Voluntária”.
Acho que foi ilusão de óptica. Ou não.
Soropango da vingança
José Horta Manzano
Para reavivar memórias de infância.
Se meu jovem leitor está ainda na casa dos vinte ou trinta anos, o que vou dizer agora parece vindo direto do planeta Marte: nos anos 1950, as crianças do Brasil brincavam na rua. Yes! Na rua, pé no chão, em cima dos paralelepípedos! Nas pequenas e até nas grandes cidades! Era um tempo em que ninguém era obrigado a fugir de bandido nem de bala perdida. Para os brasileirinhos de hoje, deve até parecer invenção da mídia intriguenta.
Naquele tempo sem televisão e sem videogame, os maiorzinhos jogavam pelada, enquanto os pequeninos brincavam de roda. Meninos e meninas misturados, que a sexualização da pequena infância ainda não estava em voga.
No hit parade, figurava o Soropango da vingança, uma cantiga importante. Como em todos esses cantos populares tradicionais, todo o mundo conhecia a mesma melodia, mas havia inúmeras versões da letra – cada família tinha a sua. As palavras eram misteriosas, desconexas, sem pé nem cabeça, mas ninguém ligava muito pra isso. O importante era que letra e música se encaixassem. Com a repetição, a cantiga acabava se fixando na memória. A prova de que repetir é bom pra decorar está aqui: passadas tantas décadas, a gente se lembra de tudo, de cabo a rabo.
A letra que aprendi com minha turminha era assim:
Soropango da vingança
Toda a gente passa lá
A costureira faz assim,
Faz assim também assim;
A passadeira faz assim,
Faz assim também assim;
A lavadeira faz assim,
Faz assim também assim.
E aí desfilavam todos os ofícios que a criançada conhecia – e que pudessem ser mimados.
Há quem diga que Soropango da vingança era calcada sobre a antiquíssima cantiga francesa Sur le pont d’Avignon (Na Ponte de Avignon). É verdade que, depois de passar pelo filtro da língua popular, “sur le pont” pode bem ter virado “soropango”, assim como “d’Avignon” é bem capaz de ter se tornado “da vingança”. É verdade também que o espírito da cançoneta é o mesmo. Tanto a francesa medieval quanto a nossa colonial mimam os gestos de pessoas ou de artesãos.
No entanto, em desagravo à musicalidade de nossa alma cabocla, frise-se que a melodia de nosso “Soropango” é bem diferente da francesa. Faz até parecer que o criador da cantiga brasileira pescou a ideia no original e criou melodia própria. Em todo caso, nossa versão é bem mais melodiosa que a original.
 Sur le pont d’Avignon
Sur le pont d’Avignon
Encontrei a versão francesa no youtube. Está aqui
Soropango
No youtube, não achei nosso Soropango. Que não seja por isso: fiz uma gravação caseira da melodia que me ficou na memória. Está aqui.
Curiosidade
Um vilarejo da Costa do Marfim leva o nome de Sorobango. Imagino tratar-se de pura coincidência fonética.
Um pouco d’arte ― 138
O que se leva desta vida
José Horta Manzano
No começo do século 20, surtos frequentes de varíola assolavam o Rio de Janeiro. Embora a vacina antivariólica tivesse sido criada cem anos antes, o governo nunca havia organizado nenhuma campanha de imunização em massa. Em 1904, a Saúde Pública instituiu a vacinação obrigatória contra a varíola, fato que acendeu o estopim de uma rebelião popular que ficou conhecida como Revolta da Vacina.
É interessante notar que não foram as estatísticas de doentes que ficaram na história, mas a Revolta da Vacina. A varíola causou certamente mais sofrimento e perdas humanas do que a revolta, mas a história guardou o fato mais espetaculoso, aquele que botou mais medo que a doença.
Neste começo de século 21, os humanos estão tendo de encarar assalto de doença nova: a covid-19. Dado que o mal é recente demais, no ano passado ainda não havia nem vacina pronta pra ser usada. Dezenas de laboratórios trabalharam com afinco e, para surpresa de todos, vários deles conseguiram oferecer imunizantes, menos de um ano depois da notificação do primeiro caso. Uma façanha!
O mundo se jogou em cima dessas novas vacinas. Israel, por exemplo, foi ainda mais rápido que os outros; contratou, recebeu, aplicou antes dos demais. Hoje está com quase todos os habitantes vacinados.
O Brasil de Bolsonaro desviou da rota do bom senso e seguiu em direção oposta. O presidente fez (e continua fazendo) campanha contra a vacinação. Sem se dar conta do mal que já causou e que continua a causar, não perde ocasião pra mostrar animosidade contra tudo o que possa limitar o alastramento da epidemia: máscaras, confinamento, distanciação social e, naturalmente, vacinas. Esta não presta porque é chinesa; aquela não compro porque não me ofereceram; aqueloutra nem pensar porque te transforma em jacaré. No fundo, a gente fica desconfiado que, na verdade, ele deve ter medo de injeção.
É difícil prever, especialmente o futuro – como diz o outro. Mas fazer previsões a longuíssimo prazo é moleza e não compromete; de qualquer maneira, quando chegar o tempo previsto, nenhum de nós vai mais estar aqui pra conferir. Então, vamos lá.
Daqui a cem anos, quando tivermos virado pó, os livros de história vão mencionar o turbulento período 2020-2021. Creio que o comportamento de Bolsonaro vai ser mais comentado do que a epidemia em si. A passagem do tempo vai escancarar cada vez mais a responsabilidade do doutor.
Assim como falamos hoje da Revolta da Vacina de 1904 mas esquecemos de contar as vítimas da varíola, nossos descendentes crucificarão Bolsonaro como o responsável pela ausência da vacina que teria estancado o morticínio.
Ele será um Joaquim Silvério dos Reis do século 21, o homem que traiu a confiança que nele haviam depositado os cidadãos. A história das nações está recheada de mitos que simbolizam tanto episódios gloriosos, quanto momentos execráveis. Bolsonaro vai entrar para a galeria de “mitos” brasileiros, a representar o papel de traidor dos ideais da nação. Será o símbolo de tudo o que o Brasil não quer.
O jornal que nos abraça
Um amigo meu, a respeito de um artigo na Folha, referiu-se ao fato de tê-lo lido “no impresso”. Queria dizer, claro, que o lera no jornal de papel. Ao ouvir isso, ocorreu-me que cada vez mais pessoas chamam de “impresso” o jornal que se compra na banca ou se recolhe pela manhã na porta do apartamento, para diferenciá-lo do online. E me ocorreu também que, mais uma vez, a substituição de um formato por outro fará com que o antigo é que tenha de mudar de nome para dar lugar ao novo.
Foi o que aconteceu quando o CD começou a se impor sobre o LP, nome pelo qual o disco de vinil foi chamado durante os seus cerca de 50 anos (1948-98) no mercado. Pois, com a chegada do CD, que era um disco metálico, o LP passou a ser chamado de “vinil” —quando, se fosse o caso, o CD, como novidade, é que devia ser chamado de “metal”. O que, com atraso, ainda pode acontecer, agora que o CD também foi reduzido a peça de museu pelas novas tecnologias.
Ninguém na Idade Média (500-1500) dizia que estava vivendo na Idade Média, e muito menos era xingado de medieval. A pecha só se estabeleceu quando veio o Renascimento. Também se diz sem pensar que dom João 6º trouxe a família real para o Brasil em 1808. Mas quem fez isto foi o príncipe-regente dom João, que só se tornou dom João 6º ao ser coroado rei, em 1816.
O advento da Segunda Guerra (1939-1945) transformou em Primeira Guerra o que até então se conhecia como a Grande Guerra (1914-1918). No Brasil, a Revolução de 1930 não derrubou a República Velha. Derrubou a República de 1889 e, para indicar a ruptura, passou a chamá-la de Velha. E o sanfoneiro Luiz Gonzaga sempre foi Luiz Gonzaga, até ser eclipsado por seu filho Gonzaguinha e tornar-se, retroativamente, Gonzagão. Etc.
Donde parece inevitável que este nosso velho amigo matinal, que nos abraça ao ser aberto, em breve se torne “o impresso”, e estaremos conversados.
(*) Ruy Castro (1948-) é escritor, biógrafo, jornalista e colunista. Seus artigos são publicados em numerosos veículos.
Ode ao ódio
José Horta Manzano
Ode
A ode nasceu na Grécia antiga. Era o nome que se dava a um poema lírico destinado a ser cantado ou recitado com acompanhamento musical. Através do latim, o termo se espalhou por praticamente todas as línguas europeias, do finlandês ao português, com os devidos ajustes ortográficos.
Da mesma raiz grega, vêm outros parentes: paródia, melodia, prosódia, rapsódia, comédia, tragédia, odeon. Na origem, são termos técnicos ligados ao teatro antigo.
Com a evolução das artes cênicas, a palavra ode praticamente deixou de ser usada no sentido próprio; sobrevive no sentido figurado. Dizemos hoje que uma manifestação exaltada de elogio ou de apreço por algo ou por alguém é uma ode. Ex: “Este seu texto é uma verdadeira ode à Bahia!”
Ódio
Apesar da semelhança sonora, o ódio tem significado oposto. É antônimo de amor. Derivada de raiz indoeuropeia com sentido de repulsão, a palavra nos veio pelo latim. Portanto, ode e ódio são termos que traduzem estados de espírito antagônicos.
Fiz uma rápida pesquisa no Google. Bem, pesquisa no Google vale o que vale, não convém tomar como verdade científica. Mas é o que temos.
Tomei alguns conceitos básicos e conferi quantas vezes cada um deles é mencionado quando acoplado com a palavra “ode”, em seguida com a palavra “ódio”. O resultado está aqui abaixo. (Número de menções dividido por 1000.)
Conceito Ode Ódio Relação
Lula 1.520 3.010 2 pra 1
Natureza 2.010 9.950 5 pra 1
Beleza 1.850 9.470 5 pra 1
Ciência 1.250 8.060 6.5 pra 1
Estudo 1.170 8.250 7 pra 1
Bolsonaro 558 4.480 8 pra 1
Dinheiro 1.530 12.700 8.3 pra 1
Inteligência 360 3.370 9.5 pra 1
Corrupção 233 3.330 14 pra 1
Rápida análise
O ódio vence a ode em todas as categorias. A conclusão apressada seria que somos um povo que odeia mais do que aprecia. Será verdade? Já veremos.
Pra cada menção de ode ao ex-presidente Lula, há 2 de ódio a ele. No caso de Bolsonaro, pra cada ode há 8 ódios. O conjunto até que faria sentido. Comparado com Bolsonaro, qualquer um parece coroinha – até o Lula.
Pra cada ode ao dinheiro, há uma baciada de ódios, numa razão de 8.3 ódios x 1 ode. Esse ítem é difícil de entender. Será que o povo brasileiro tem assim tanto ódio ao dinheiro? Vamos ver.
Há 6.5 que odeiam a ciência contra 1 que a exalta. Esquisito? É. Parece que tem ódio demais nessa conta. E a beleza então? O ódio à beleza dá de 5 x 1 na ode.
No ítem corrupção, é compreensível que 14 menções ao ódio apareçam para cada menção à ode. Já no ítem inteligência, é muito esquisito ver tanto ódio (14 x 1) contra ela. Será que já chegamos ao ponto de odiar a inteligência?
Conclusão final
Não dá pra acreditar que o ódio domine, a esse ponto, o panorama do brasileiro. Esses números, com poucas exceções, mostram que há uma distorção em algum ponto.
Refletindo um pouco, acho que não precisa se aprofundar em nenhuma análise sociológica. A razão dessa predominância do ódio em nossa terra é muito simples: a maior parte dos brasileiros desconhece a palavra ode. Não conhecendo, não a utilizam. Está aí a razão da aparente predominância do ódio. Elementar, meu caro Watson.
Sina
Internet e redes sociais têm seu lado bom. Se assim não fosse, não teriam conquistado tantos adeptos. A informação instantânea (que hoje convém dizer “em tempo real”) é bom exemplo dos benefícios.
Nos tempos de antigamente, um meio muito utilizado de transmitir informação era o “telefone sem fio” ou “boca a boca”. Não era sofisticado, mas tinha sua graça. Logo após ter se inteirado de uma notícia, a gente corria pra informar algum conhecido.
– Você soube da novidade?
– Não. O que é que foi?
Neste ponto, o bom da coisa era contar o que tinha ocorrido e parar pra observar a cara de espanto do interlocutor. Era uma sensação impagável.
– Noooossa! Não diga!
– Digo, sim. E digo mais.
E aqui se acrescentava algum comentário pessoal. Como se sabe, quem conta um conto aumenta um ponto.
E assim seguia. Terminada a conversa, cada um seguia seu caminho pra continuar a espalhar a notícia.
Diálogos assim, hoje, são mais raros. Com o celular sempre no bolso, (quase) todos ficam sabendo de (quase) tudo ao mesmo momento. Não tem mais graça perguntar “– Soube da novidade?”. Normalmente, a resposta será “– Soube, sim.”
Nem tudo, porém, é cor-de-rosa. Há gente que exagera na dose e tem nas redes sociais seu único canal de informação. Não é o caso do distinto leitor, naturalmente, visto que chegou a este blogue caminhando com as próprias pernas. Está ficando cada vez mais raro ver gente que usa as próprias pernas para andar; muitos por aí andam caminhando com as pernas alheias. Parece cômodo, mas pode ser nocivo a longo prazo. Massa cinzenta pouco utilizada acaba se atrofiando.
Essa dedicação exclusiva e em tempo integral às redes pode causar distorções em certos momentos. Em política, na hora de escolher candidato para eleição majoritária (presidente, governador, prefeito), esse hábito trabalha contra o eleitor, visto que limita sua liberdade de escolha.
A frequentação permanente das redes acaba por fagocitar outros canais de comunicação que costumavam ser usados entre candidatos e eleitores. Debates, por exemplo, em que cada pretendente tem ocasião de expor as próprias ideias, estão em processo de rápida perda de importância.
Esse estreitamento dos canais de informação dificulta o aparecimento e a ascensão de novos candidatos, enquanto favorece a reeleição dos nomes mais conhecidos. Para as presidenciais de 2022, o quadro se delineia cada dia com maior nitidez.
Um terceiro candidato, fora do binômio Lula x Bolsonaro, tem pouca chance de se fortalecer eleitoralmente. Esses dois personagens são tão conhecidos, que um terceiro será naturalmente menos popular do que eles. E terá menos espaço nas redes, o que limitará suas chances de sucesso.
Salvo acontecimento extraordinário, os dois nomes que o país inteiro conhece – o do ex-presidente (e ex-presidiário), e o do atual presidente (e futuro presidiário?) – têm todas as chances de aparecer na cédula do segundo turno.
Eta carma pesado, o nosso!
Euroinglês
Artigo publicado pelo Correio Braziliense em 26 abril 2021.
Diante do drama linguístico que vive hoje a União Europeia, convém recordar as palavras pronunciadas em 1962, numa coletiva de imprensa, por De Gaulle, presidente da França. O velho general tinha o dom do espetáculo; as credenciais para assistir a suas entrevistas eram disputadas a tapa pelos jornalistas. Naquele dia, ele pareceu ainda mais inspirado que de costume. Lá pelas tantas, citou Dante, Goethe e Chateaubriand e declarou que, se esses autores são venerados até nossos dias, é justamente porque cada um deles, ao se expressar na língua materna, guardou o espírito de seu país. Disse ainda que eles não teriam sido de nenhuma valia para a Europa se tivessem se exprimido “num esperanto ou num volapük qualquer”.
Não foi por acaso que o general mencionou duas línguas artificiais. Não foi sem razão que se referiu a elas em tom de desprezo, como se não passassem de brincadeira infantil do tipo língua do pê. É que, naquela altura, as lembranças da Segunda Guerra ainda estavam frescas na memória. Num Mercado Comum formado por apenas seis nações, a paisagem linguística era simples. Apenas três países eram grandes: França, Alemanha e Itália. Dos três, dois estavam em posição frágil, por serem os derrotados de 1945. Sobrava a França. Na lógica do general, a língua francesa se imporia naturalmente como lingua franca. Daí ter rejeitado toda ideia de língua neutra.
Passaram-se quase 60 anos, De Gaulle se foi, o mundo mudou. A União Europeia saltou de meia dúzia de membros para os 27 atuais, o que complicou o panorama linguístico. As línguas oficiais passaram de 4 a 24. E a tática do general furou: o francês não se impôs como língua de comunicação entre os europeus. Com o passar do tempo, foi o inglês que acabou por se impor.
Na administração da UE, a primazia da língua inglesa é fato incontestável. Em 2015, a Comissão traduziu 1.600.000 páginas para o inglês e apenas 72.000 para o francês, a segunda língua mais procurada. O domínio do inglês é brutal. Com sua estratégia de barrar línguas neutras, De Gaulle acabou facilitando a entrada do inglês. O que ele temia aconteceu: a língua de Shakespeare suplantou as demais.
O Brexit levou o Reino Unido para o outro lado da fronteira e deixou a UE numa situação linguística peculiar. Tirando Malta e a Irlanda, países de importância muito relativa, nenhum outro membro dá ao inglês estatuto oficial. No entanto, o inglês é de facto o idioma de todos os dias. No Parlamento, o número de intervenções em inglês equivale às falas em francês, espanhol e alemão somadas. A Inglaterra foi-se, mas o inglês ficou.
Depois do desaparecimento do sabir, um pidgin que serviu de lingua franca na bacia do Mediterrâneo desde a Idade Média até meados do século 19, é a primeira vez que um consórcio de povos adota, para a comunicação do dia a dia, uma língua estrangeira que não a do antigo colonizador – mesmo porque de descolonização não se trata. Não se trata tampouco de imposição de quem quer que seja. A adesão espontânea ao inglês teve crescimento vigoroso a partir da admissão de países da Europa Oriental, em 2004.
Chega-se agora a uma situação curiosa. Há uma corrente propondo que se oficialize o inglês como segunda língua dos europeus, junto à língua materna. Se isso ocorrer, a língua inglesa assumirá importância superior à do latim medieval, que se restringia ao posto de língua de cultura, sem jamais perpassar a fala popular. A moderar os ardores dessa corrente, surgem vozes que, sem renegar a realidade, recomendam que o futuro inglês europeu – euroinglês, provavelmente – lance, de certo modo, seu grito de independência: “Que se afrouxem as amarras que me prendem à tirania do inglês britânico!”.
O pleito faz sentido. Não é confortável nem admissível que um inglês oficializado na UE continue sob a tutela de Cambridge ou de Oxford. Nenhum parlamentar europeu deveria se envergonhar de não dominar o idioma como um nativo. Não se pode esperar que um lituano, um espanhol ou um húngaro manejem o inglês como se fossem ingleses. Ainda que puristas britânicos possam não apreciar, a futura lingua franca europeia será fruto do idioma de Shakespeare. Será fruto, é verdade, mas será também bastardo.
Ai, minha mãe!
Marina e a perereca
Lula tem razão. Ele e Gleisi assinaram artigo na “Folha” mostrando preocupação com o meio ambiente e batendo na política criminosa de Bolsonaro para o setor.
Mas é bom não esquecer que o maior ícone ambientalista nacional, a ex-senadora Marina Silva, pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente no governo Lula por falta de “sustentação política” para tocar sua pauta.
Também não custa lembrar que Lula sempre se queixou da “poderosa máquina de fiscalização” ambiental. Por isso disse, no longínquo 2010, que o Brasil não podia “ficar a serviço de uma perereca”. Criticava a paralisação das obras do Arco Metropolitano do Rio em favor da preservação de um anfíbio que habitava um charco por onde passaria a estrada.
(*) Ascânio Seleme é jornalista. Trecho de artigo publicado no jornal O Globo de 24 abril 2021.