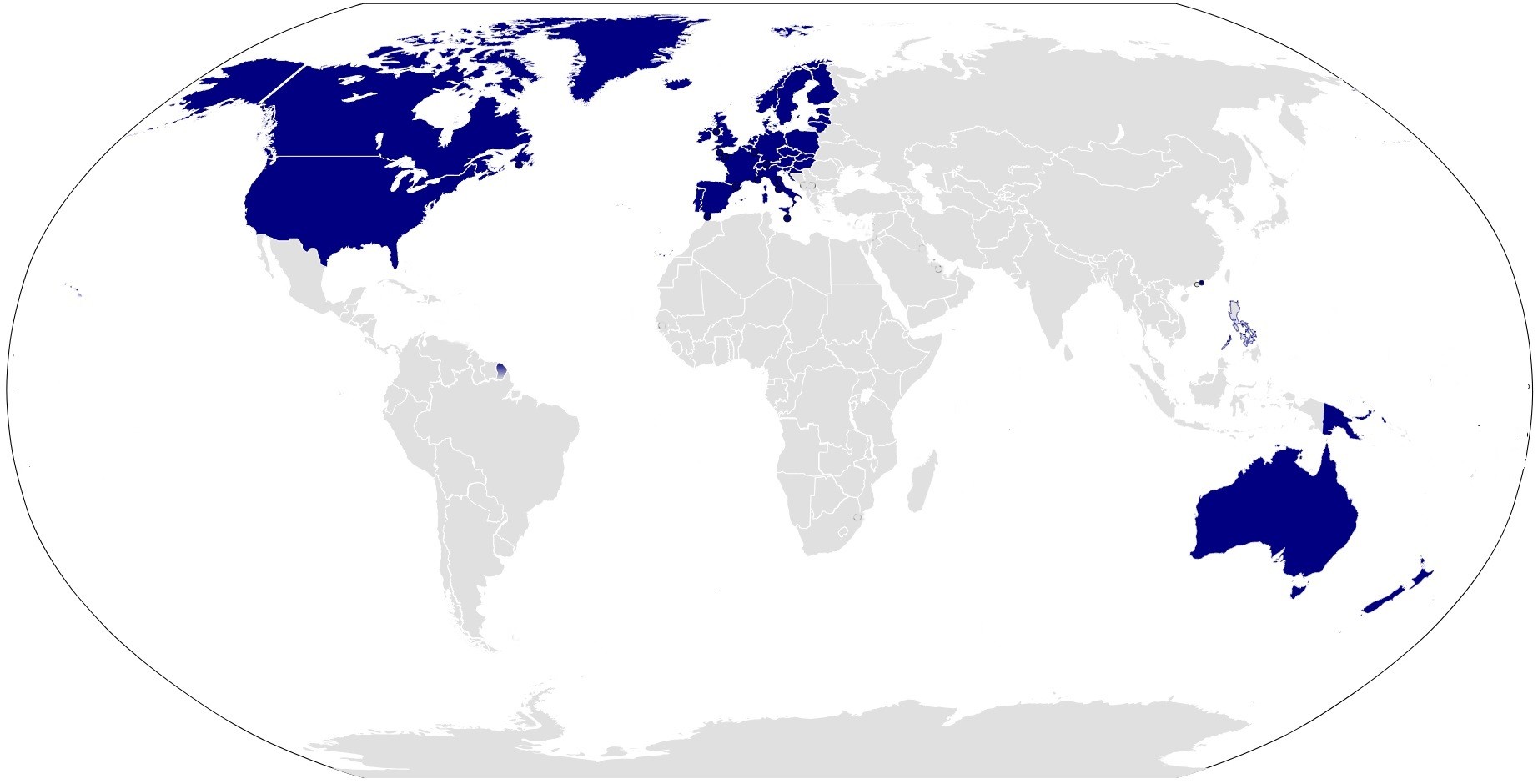Não sei por onde andavam os extremistas de direita quando os de esquerda explodiam estações de estrada de ferro, sequestravam artesãos e matavam indiscriminadamente nos anos 70 e 80. Isso foi na Europa, mas até no Brasil, num tempo em que a vida andava muito vigiada e reprimida por aqui, esquerdistas extremados empreenderam ações ousadas e mataram gente.
Calada naqueles anos, a extrema direita só deu o ar de sua graça a partir dos anos 2010, coincidindo com a subida ao poder de Trump, Bolsonaro, Orbán e outros colegas europeus. Veio tarde, mas veio com força. Como prova disso, vejam o estrago que tem provocado no Brasil e no mundo. Bem tudo isso mostra que, independentemente da ideologia, a violência pode estar presente, basta cutucá-la com vara curta.
Direitistas extremos têm traços comuns com seus contrapontos da extrema esquerda. O desinteresse pelas grandes causas do país é um deles. O tarifaço de Trump dá mostra interessante. Para efeito de argumentação, vamos passar por cima dos capítulos iniciais da novela. Vamos direto ao capítulo mais recente, o encontro entre Lula e Trump.
O sucesso das tratativas, pelo menos até o momento atual, trouxe um alívio a inúmeros brasileiros. Muitos de nós estávamos assustados e apreensivos com o que estava acontecendo, cada um por um motivo. Uns temiam que sua pequena empresa exportadora fosse à falência, outros receavam perder o emprego, outros ainda se sentiam profundamente incomodados com o ataque intolerável à soberania nacional. Todos se sentiram aliviados de saber que as negociações iam no bom sentido.
Todos, não! A reação de bolsonaristas e de outros integrantes da direita extrema foi esquisita. Calaram-se e submergiram. Pior: tentaram (e continuam tentando) menosprezar e minimizar o que aconteceu na Malásia, que não lhes parece importante.
Ora, esse comportamento demonstra que certas pessoas não têm capacidade de enxergar além da ponta do nariz. Este escriba, que não é petista nem nunca foi, percebe que as tratativas entre EUA e Brasil estão indo no bom sentido. E festeja, porque, do jeito que as coisas vão, o final deve ser bom para brasileiros e americanos.
Não vejo por que razão eu deixaria de aplaudir iniciativas tomadas por políticos com quem nem sempre concordo, mas cuja ação me parece boa para todos. Infelizmente, parece que os extremistas, engessados por uma visão caolha, não têm capacidade de vislumbrar a grandeza de uma visão alargada do mundo. É pena.