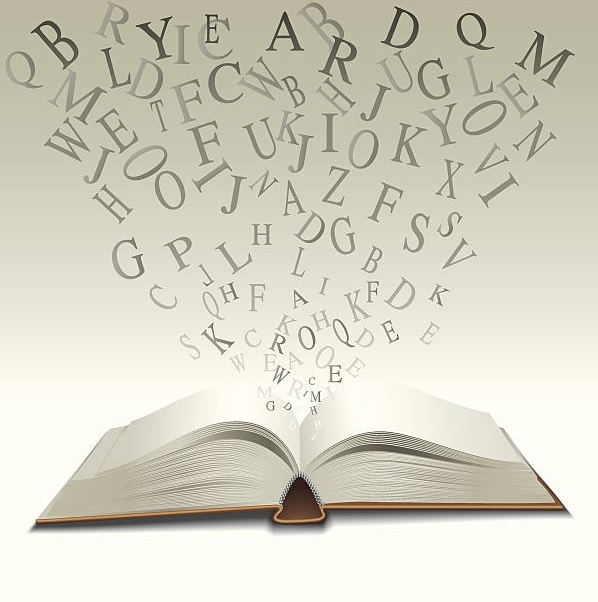José Horta Manzano
José Horta Manzano
Artigo publicado no Correio Braziliense de 3 outubro 2024
O sistema político francês, que o general Charles De Gaulle arquitetou e fez assentar na Constituição de 1958 (que vigora até hoje), é tido como ‘semipresidencial’. O presidente da República é chefe do Estado, com atribuições executivas em princípio limitadas. Como em todo regime parlamentarista, um primeiro-ministro desempenha as funções de chefe do governo, secundado por ministros.
Um detalhe de capital importância, que confere ao sistema características diferentes dos regimes parlamentares tradicionais, é que a eleição do presidente se faz pelo voto popular direto. Essa particularidade contribui para que esse presidente, longe de exercer apenas funções protocolares, se torne a figura número um da política nacional, um personagem central e vistoso, que acaba relegando o primeiro-ministro a segundo plano.
Essa força presidencial está na raiz da atual crise política do país. Desde que o presidente decidiu dissolver o parlamento, três meses atrás, o país ficou sem governo. Primeiro-ministro e demais ministros permaneceram provisoriamente só para tratar os assuntos do dia a dia, deixando temas de peso em banho-maria.
Se a escolha do chefe de governo (primeiro-ministro) fosse atribuição dos parlamentares, provavelmente teriam chegado a um acordo aceitável por todas as correntes politicas. No entanto, dado que cabe ao presidente da República nomear o governo – e que o presidente é forte e poderoso – ele acabou escolhendo os ministros segundo seu gosto pessoal, sem levar em conta as correntes políticas representadas na Assembleia. E demorou três meses para fazê-lo.
O novo governo já foi nomeado e já arregaçou as mangas. No entanto, dado que a escolha dos ministros foi feita segundo a vontade presidencial, tem-se atualmente uma situação emaranhada, difícil de destrinchar. Qualquer solução, ainda que agrade a uns, será execrada por outros.
O mundo mudou nestes 70 anos, e a Constituição francesa envelheceu. Feita para um panorama político em que apenas dois partidos dominavam a cena, tornou-se difícil de aplicar num universo em que três forças políticas praticamente se equivalem.
No Brasil, de tempos em tempos, quando o caldo engrossa nos altos círculos de Brasília, volta à baila a ideia de um semipresidencialismo. Esse sistema, que tem boas chances de vicejar num terreno bipartidário, seria, entre nós, fator de instabilidade paralisante. A miríade de partidos representados em nosso Congresso não permite que se pense num regime parlamentar acoplado a um presidente eleito pelo voto universal. A figura presidencial tende a sugar e puxar para si a aura que deveria pairar sobre o parlamento.
Nossos congressistas estão mal-acostumados. Cacoetes preexistentes foram potencializados nos tempos de Jair Bolsonaro, quando um governo acuado se tornou refém do Congresso. Generosas emendas personalizadas floresceram e criaram raiz. O governo Lula não tem mostrado habilidade para mitigar a avidez de Suas Excelências.
Nossa pulverização partidária dificulta a formação de maiorias estáveis, fenômeno que leva a um ambiente efervescente e a um confronto permanente entre Executivo e Legislativo. Essa tensão desprovida de sentido não deveria existir. Ela não leva benefício a ninguém.
Se um dia vingar a ideia de introduzir-se um regime parlamentar, a figura presidencial terá de ser inteiramente repensada. Poderes e atribuições do cargo serão drasticamente limitados. O presidente não será mais que chefe do Estado, escolhido pelo Congresso entre os notáveis do país, uma figura simbólica com visibilidade mas sem poder.
Neste momento, temos um presidente com convicções de esquerda e um Congresso que tende nitidamente à direita. Esse antagonismo entra em choque com frequência e atravanca o avanço do país. Nossa política externa, com forte dependência da ideologia presidencial, tem seguido rumos pedregosos e estéreis. Pouco a pouco, o Brasil tem perdido importância, limitando-se hoje a discursar na ONU para criticar a ONU.
Alguém dirá: “Mas como! Um regime parlamentar com o parlamento que temos?” Por minha parte, acredito que o ser humano pode se emendar. Nossos parlamentares se comportam hoje com a irresponsabilidade de adolescentes birrentos. Fazem isso porque sabem que o Executivo tem meios de aparar os exageros vindos do Congresso. No dia em que o poder executivo for exercido pelo próprio Parlamento, o quadro se transformará.