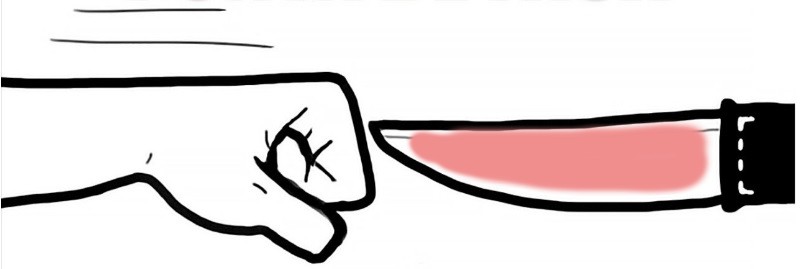José Horta Manzano
Não assisti ao debate eleitoral americano de ontem. É que, devido à defasagem causada pelo fuso horário, o programa caiu por aqui no meio da madrugada. Mas já li a notícia e mais meia dúzia de artigos de opinião.
Parece que os analistas se puseram de acordo: descrevem o duelo com palavras semelhantes e são unânimes em atribuir a vitória a Kamala Harris. Por pontos, é verdade, mas sempre vitória é. (Aliás, como seria mesmo uma vitória por nocaute?)
Entretanto (ou however, como dizem eles), a história tem um nó. A opinião pessoal dos eleitores de lá anda tão cristalizada, que é difícil que o debate, por mais esclarecedor que seja, abale alguém a mudar o voto. Ao fim e ao cabo, cada eleitor desligou a tevê satisfeito de ver que seu(sua) candidato(a) é de fato superior ao adversário. Afinal, cada um ouve o que quer e retém o que deseja, não é mesmo?
De fato, tenho dificuldade em imaginar um trumpista roxo ter se encantado com a verve de Kamala, a ponto de decidir se tornar kamalista, se me perdoam o neologismo. O mesmo vale para o vice-versa. Ou alguém imagina um fervoroso democrata ter-se tornado trumpista desde ontem?
Logo, para que servem esses debates? Se não servem pra orientar eleitores e fazê-los escolher candidato, qual é a utilidade? Talvez para incentivar eleitores preguiçosos a se levantarem do sofá e se dirigirem ao posto de votação.
E há outro nó. É um pouco complicado de entender para nós, que vivemos numa república onde, na hora de escolher o presidente, todos os votos são iguais. Para nós, um eleitor equivale a um voto; e o chefe da nação será o candidato que obtiver mais votos. Nos EUA é mais enrolado.
Na intenção de dar uma ajuda aos estados menos populosos, os fundadores do país complicaram o sistema. Não tenho a pretensão de explicar aqui como funciona, mas o fato é que, a nossos olhos, o resultado pode ser distorcido. O candidato que tiver o maior número de votos não é necessariamente o vencedor. Acontece com certa frequência que o vencedor do voto popular perca a eleição.
Assim, por mais empolgante que seja – tem gente que perde horas de sono só pra acompanhar – o debate eleitoral americano é jogo que não vira o jogo. Um desastre, como o desempenho de Biden no duelo anterior, tem mais força que um bem estruturado debate de ideias.
Só me resta dar um conselho a nossos leitores americanos (não sei se os há, mas devem ser numerosos).
Votem em quem quiserem, mas não votem em Trump.
Para o bem da humanidade.