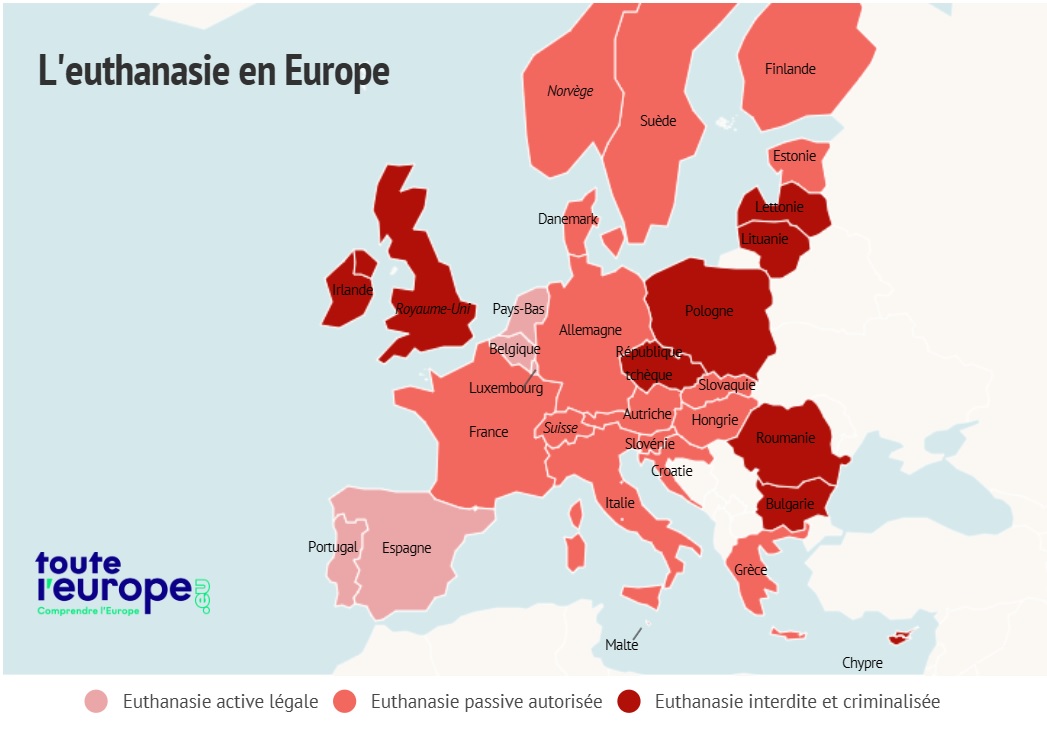Leio no jornal de hoje que a cúpula do G20 foi uma “vitória da diplomacia brasileira”. Tenho minhas reservas. Podiam dizer, com mais propriedade, que foi uma vitória da organização do evento, que:
não sofreu nenhum tropeço;
policiou por terra, mar e ar, abatendo drones intrusos;
preocupada com possíveis dificuldades masticatórias ligadas à idade avançada de alguns chefes de Estado, mandou servir-lhes pirarucu (que é peixe) e carne desfiada (que é molinha);
geriu com maestria o alojamento dos milhares de participantes, não deixando nenhum deles ao relento nas areias de Copacabana;
tocou com profissionalismo a complicada tradução multilíngue e simultânea das falas e dos discursos pronunciados em todas as línguas de Babel;
conseguiu convencer os cariocas a esvaziarem ruas e avenidas, sem fazer cara feia, para ceder passagem a alguns dos grandes deste mundo;
coordenar a presença de nossos graúdos com os graúdos de fora que pousavam ou decolavam do Galeão e requeriam uma acolhida à altura da ocasião. Há participantes que vieram de muito longe: alguns estão desde ontem voando de volta a seu país, onde só pousarão nesta quarta-feira à noitinha, hora de Brasília.
Entre outros, que me escapam neste momento, foram esses os pequenos ou grandes detalhes que compuseram a feira de vaidades que o Rio acolheu.
Quanto ao brado ufanista de “vitória da diplomacia brasileira”, acho-o exagerado. Quando o evento se abriu, já fazia dias que assessores e colaboradores tresnoitavam na confecção de um “comunicado final” que agradasse a todos os participantes ou, pelo menos, que não desagradasse frontalmente a nenhum deles.
É obra quase impossível. Em tese, há tantas posições quantos são os participantes. Todas divergentes entre si. Nessas horas, a solução é limar asperezas, aplainar desacordos, arredondar cantos, até que o texto se torne aceitável por todos. O resultado dessa busca de um denominador comum são comunicados finais insossos, pasteurizados, que não comprometem ninguém, que excluem dissensos e pontos de atrito.
Não se falou dos massacres provocados pela invasão da Ucrânia pela Rússia, não se deu importância aos massacres entre árabes e judeus. Sobraram vagas promessas de trabalhar pela erradicação da fome no planeta, arroz com feijão que ressurge a cada cúpula, seja ela qual for.
É o caso de se perguntar para quê servem essas cúpulas. Não tenho resposta exata e cravada, mas eu diria que, no mundo internetizado em que vivemos, não têm mais grande utilidade. Tudo o que se pode discutir em torno daquela imensa mesa, redonda ou em ferradura, pode ser debatido, com vantagem, numa videoconferência. Que, aliás, sai imensamente mais barata.
Nos anos 1970 e 1980, as reuniões do G7 (que já foi G5, G6, G8) eram um acontecimento. Numa era pré-internet, conferências presenciais eram indispensáveis. Naqueles anos, talvez, alguma decisão importante tenha sido tomada na ocasião desses encontros.
Hoje não é mais assim. Há grupos demais, conferências demais, reuniões demais. O que é demais cansa. Cada novo evento desse tipo suga a importância do anterior. Saibam meus caros leitores que, na Europa, não ouvi nem li uma linha sobre esse G20. Nada. Ninguém aqui ficou sabendo da extraordinária “vitória da diplomacia brasileira”.
Quando dois se reúnem, temos discussão séria e pra valer. É um pingue-pongue radical e frutuoso: se houver vontade de entrar num acordo, uma meta comum vai aparecer. Reunião de três participantes pode até funcionar, embora já não seja a mesma coisa. Mais que isso, complica.
Por outro ângulo, quando há uma certa uniformidade entre países participantes (PIB per capita, níveis de pobreza, avanço tecnológico razoavelmente compatíveis), as discussões tendem a ser menos ásperas e mais produtivas.
O chamado G20 é composto por países de grande disparidade de população, nível econômico, sistema de governo. Há democracias e autocracias medievais como Arábia Saudita e Rússia. Há países leigos e outros que se encaminham para tornar-se uma teocracia como Turquia e EUA. Há fortes diferenças em matéria de PIB (o da China é 37 vezes maior que o da África do Sul).
Nenhuma declaração de guerra jamais sairá dessas cimeiras. Nem tratados de paz, que necessitam seleção específica de participantes. Desse tipo de reunião, seja de G20, G7, Brics & congêneres, só podem sair esparadrapos – insuficientes para conter sangrias.
Mas já que divertem o povo e confortam o ego de organizadores e participantes, que se divirtam todos.