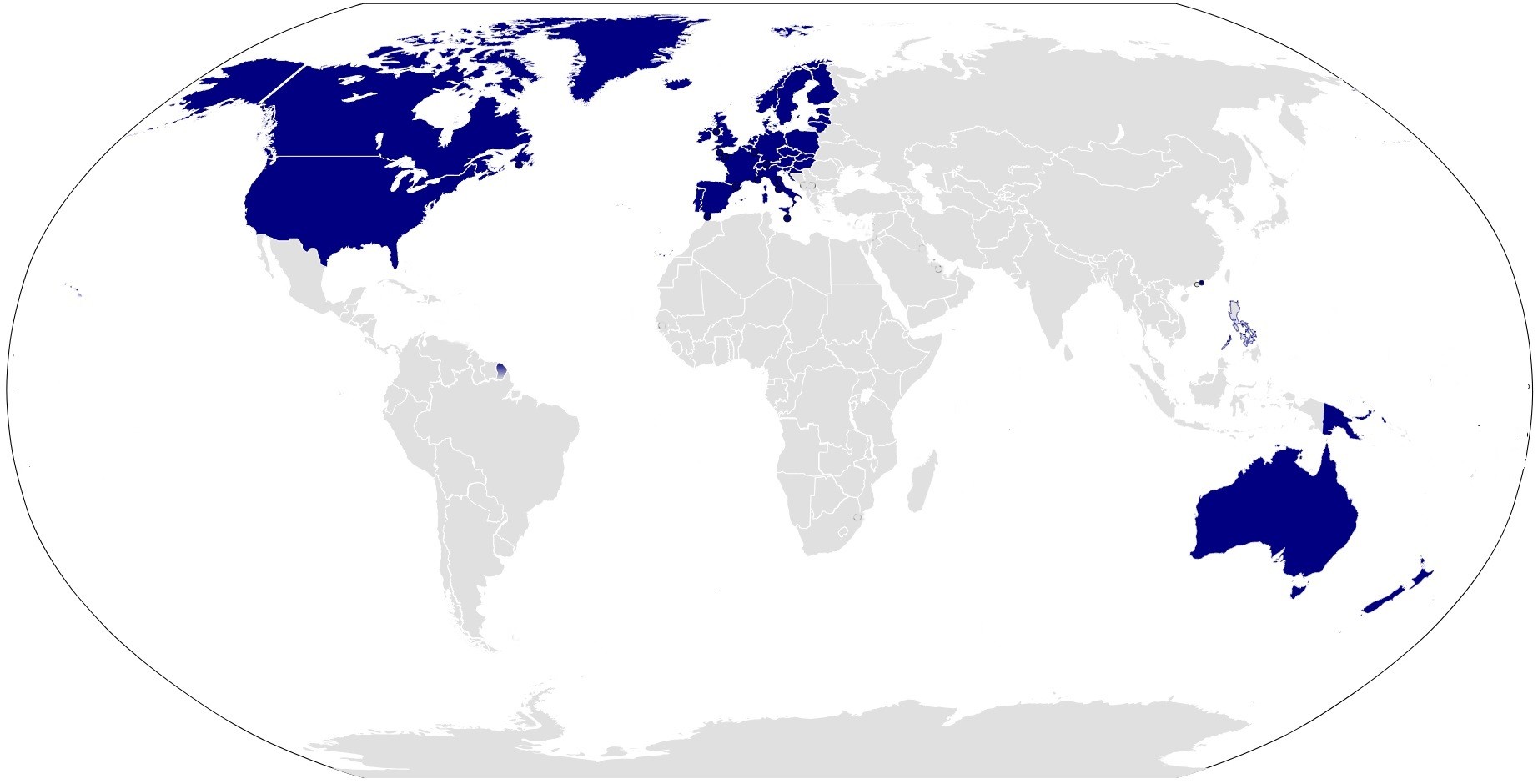José Horta Manzano
Faz poucos dias, fiquei indignado com a iniciativa da Prefeitura de Florianópolis de obrigar, a todo depenado que chegasse, fazer meia-volta antes que tentasse fincar pé na cidade. Me pareceu expressão violenta de aporofobia – repulsa a pobre.
Infelizmente, as classes dominantes (não só no Brasil, mas em todo o mundo) nem sempre são compostas por almas altruístas. Não costumam enxergar os infelizes que precisam de ajuda. Talvez vosmecê se lembre do dia em que Bolsonaro negou a existência da fome no Brasil: “Mas no Brasil ninguém passa fome!”, disse ele. Fez como fazem os que acreditam que a solução do problema consiste em negar sua existência.
Estes dias, de novo, fiquei sabendo de ocorrência de aporofobia explícita – a crer que tais fatos estão se tornando mais frequentes, com a liberação de sentimentos antes represados, mas agora permitidos, pela ascensão da extrema direita.
Guarujá, estação balneária situada no litoral do estado de São Paulo, já foi chique e livre de pobres, mas hoje, com as atuais facilidades de transporte, é cada dia mais procurada. Um século atrás, a estação era realmente para um punhado de famílias endinheiradas, que se hospedavam no Grand Hôtel para uma temporada de dois, três ou quatro meses.
Esse tempo passou. A partir dos anos 1950, prédios começaram a enfeiar a bucólica paisagem. Hoje o Guarujá se despersonalizou. Tornou-se uma fileira de edifícios sem alma, encavalados uns nos outros, com diferentes perfis, cores e alturas, a mostrar que nas orlas mal construídas nem sempre é feriado nacional.
É essa paisagem modernosa que tem atraído visitantes domingueiros, com certeza vindos da aglomeração paulistana em ônibus pretado. São turistas de poder aquisitivo modesto, que trazem a própria refeição e pisam a praia só para pegar uma cor e poder fazer inveja à vizinhança na segunda-feira.
A governança do município não tem apreciado nem um pouquinho essa moda. Impôs, a peruas e ônibus, a obrigação de pagar o que chamam “taxa de turismo” entre R$ 926 e R$ 4.630. Os visitantes indesejados, considerando os montantes exagerados, apelaram para a justiça. O tribunal acaba de publicar seu julgamento dando razão aos visitantes: os valores cobrados são incompatíveis com o o objeto da cobrança.
Concedo que, num domingo de sol (ou sem sol, dá no mesmo) é desagradável espreguiçar-se na areia ao som de um potente alto-falante que toca músicas que você não teria escolhido. Só que o remédio contra isso é mais simples do que impor taxas tão escandalosamente dirigidas contra visitantes pobres. Basta o município proibir que se toque música com alto-falante na praia. Hoje em dia, todos têm um celular e um par de fones de ouvido, pois não?
Esses domingueiros gesticulam, riem, brincam e falam muito alto? Pois acredite que não estão alegres porque são pobres – há muito bacana que, embora sizudo e mal-humorado, solta palavrão o tempo todo. Em voz bem alta, o que incomoda do mesmo jeito.
Quem considerar essa convivência insuportável, tem outra opção. Aos domingos, em vez de ir à praia no Guarujá, dê uma esticada até São Sebastião e combine com um barqueiro que o leve até uma praiazinha deserta, do outro lado da ilha, lugar paradisíaco onde dá pra sonhar que se está em Tahiti.
Mas, se quiser voltar inteiro, não se esqueça de levar um bom repelente contra mosquitos, pernilongos e muriçocas.