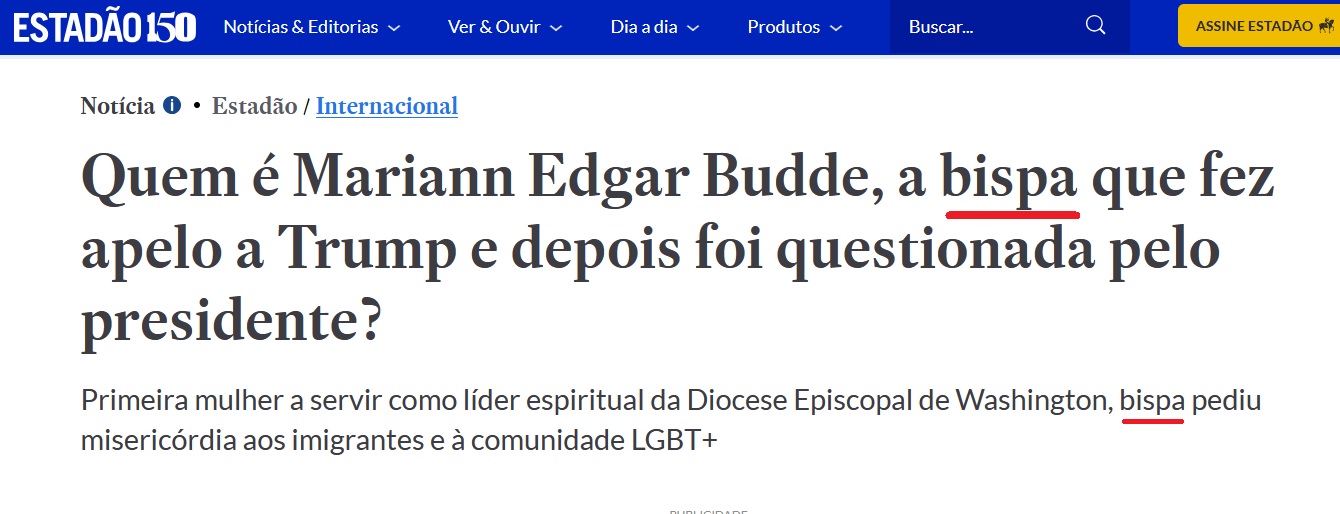Em 27 de janeiro passado, está fazendo quase dez dias, escrevi um post ao qual dei o nome de Plaza Strip. Naquele texto, botei no papel uma realidade que me parecia evidente, bastanto juntar duas falas de Donald Trump pronunciadas em momentos diferentes. Eu tinha entendido que o presidente americano, experiente no ramo de promotor imobiliário, enxergava a Faixa de Gaza como excelente localização para implantar um complexo turístico de luxo.
Pelas manchetes que vejo hoje nos jornais do mundo inteiro, fico com a impressão de ter sido o único a ligar as duas falas de Trump. Esse é o lado lisonjeiro. Do lado decepcionante, percebo que nenhum dos líderes globais – Xi Jinping, Macron, Putin nem mesmo Lula – leu meu artigo. Se tivessem lido, já teriam reagido antes dos comentários da multidão. E olhe que não leram de bobeira: aqui não tem anúncio! Enfim, paciência.
As manchetes devem estar fazendo muita gente fina cair das nuvens, todos assustados com o pronunciamento que Trump fez ontem sobre Gaza. Desta vez, ele juntou tudo numa fala só, e foi bem claro. Lançou no ar a ideia de que os EUA devem tomar conta de Gaza, não sem antes tirar de lá os gazeus e reparti-los entre Egito e Jordânia. Em seguida, a faixa de terra será reconstruída e se tornará uma “Riviera” do Mediterrâneo Oriental. (Daí eu ter chamado meu escrito de Plaza Strip, fazendo rima com Gaza Strip, mas numa declinação mais chique e sofisticada, lembrando grandes hotéis de luxo da orla mediterrânea.)
Não precisei ir mais longe que nossa mídia online nacional para encontrar as primeiras reações ao projeto: desumano, limpeza étnica, roubo de território, mundo chocado, projeto truculento, mandar palestinos para onde? (Lula), violação de leis internacionais, genocídio.
Concordo com todas essas expressões. Trata-se de mais um passo no genocídio montado contra os infelizes palestinos, cidadãos cujo triste destino todos lamentam mas que ninguém se anima a convidar pra morar em casa.
![]()
Agora vamos mudar de tom. Não se trata de ser cínico, mas realista, questão de ver as coisas como são.
Israel controla a Faixa de Gaza. Ninguém lá entra nem de lá sai sem autorização de Tel Aviv. Desde o começo da guerra, nenhum jornalista estrangeiro pisou o território. Remédio só entra a conta-gotas. Todos os hospitais foram destruídos ou fortemente degradados. Em Gaza City, 90% dos imóveis desmoronaram.
Os Estados Unidos são a maior potência econômica e militar do planeta. São também aliados incondicionais de Israel.
Juntando os dois, Israel e EUA, temos a fome e a vontade de comer. Portanto, não perca dinheiro na bolsa de apostas de Londres: o que Donald Trump quer, se fará. Que seja chocante ou não, que pareça legal ou não, que o mundo aprecie ou não, dentro de pouco tempo o território será esvaziado dos trapos humanos que o habitam. Alvas construções em estilo brotarão e palmeiras recém-plantadas enfeitarão a borda das piscinas para suavizar o clima desértico. E os primeiros nababos começarão a chegar.
Quem poderá impedir que isso tudo aconteça? Xi Jinping? Putin? A União Europeia? Quem se arriscaria numa guerra contra os EUA?
Como disse, prezado leitor? Pra onde vão os gazeus? Ora, uma parte para a Jordânia e outra para o Egito, exatamente como Trump deseja. E como é que ele vai conseguir que esses países aceitem dois milhões de maltrapilhos? Pela ameaça. Tanto a Jordânia quanto o Egito são tributários de substancial ajuda americana. Todo ano, recebem quantia que não podem perder. Receberão, naturalmente, uma compensação pela gentileza de acolher os refugiados. E vão acolhê-los, sim, senhor.
Mas tem uma coisa. Como se sabe, toda moeda tem duas faces. Na outra face desta, está o precedente que Trump estará abrindo caso insista nessa ideia descabida. Se sua cupidez imobiliária o cegar, estará dando ao mundo prova de que é legítimo intervir de forma truculenta para conquistar territórios estrangeiros.
Daí pra frente, não poderá mais dar um pio se a Rússia intervier militarmente na Moldávia ou na Geórgia ou se a China decidir tomar Taiwan à força dos canhões. O mundo terá regredido aos séculos de antigamente. Estará aberta nova era de conquistas territoriais como nas guerras napoleônicas. Só que agora a espada será substituída por drones incendiários, minas antipessoais e outros bijuzinhos da guerra moderna.