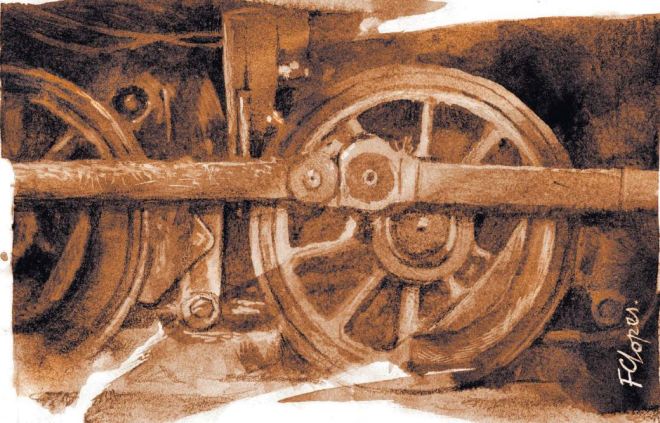José Horta Manzano
«Quando il gatto non c’è, i topi ballano» ‒ quando o gato não está, os ratos fazem a festa. Quando um indivíduo tem certeza de que nada nem ninguém o pode ameaçar, é grande o risco de se deixar levar pela soberba dos que tudo podem. A garantia de estar blindado contra todo tipo de ataque gera um sentimento de poder absoluto.
Na estrutura da alta administração da República, os cargos têm prazo de validade. Presidente, deputado e senador têm mandato limitado no tempo. Ministro, que ocupa cargo de confiança, pode cair a qualquer hora, dependendo apenas de uma canetada de quem o nomeou. O topo do Judiciário, no entanto, é sujeito a regras diferentes. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, uma vez nomeados, escapam ao destino do mortal comum: ninguém os pode tirar de lá.
É compreensível que juízes gozem de determinadas garantias. Aliás, a própria Constituição determina a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios dos magistrados. Faz sentido. Para exercer sua função com serenidade e imparcialidade, um juiz tem de ter segurança. Se não as tivesse, seria presa fácil tanto para coação de gente poderosa quanto para ameaça de bandido perigoso.
No entanto, a própria lei se contradiz quando obriga os ministros do STF a se aposentarem, queiram ou não, ao atingir 75 anos de idade. Está aí a prova de que nem a vitaliciedade nem a inamovibilidade são garantias absolutas. Vencido o prazo, são postas de lado. Como se vê, tudo é relativo.
Nosso STF tem sido criticado ultimamente. Suas Excelências têm sido protagonistas de verdadeiras cenas de novela de segunda categoria. É possível que a presença constante de holofotes e câmeras lhes dê a sensação de estar num palco iluminado. Fato é que, com indesejável frequência, se comportam como comadres que se atracam num cortiço. Insinuações, ofensas, insultos são atirados como flechas, à vista de todos, num espetáculo deprimente.
O zé povão ‒ que somos nós ‒ assiste atônito e impotente aos bate-bocas. Fica a amarga sensação de que Suas Excelências se valem da garantia de que não serão demitidos. Não correm o menor risco de receber «bilhete azul».
Vamos agora refletir. Por um lado, tanto no Executivo quanto no Legislativo, os cargos mais importantes não são vitalícios: dependem de um mandato que pode (ou não) ser renovado pelo voto popular na eleição seguinte. Por outro, a regra da aposentadoria compulsória anula a vitaliciedade dos ministros do STF. Em conclusão, nenhum dos cargos maiores da República é vitalício de verdade, em nenhum dos três Poderes.
Depois de todos esses considerandos, vamos aos finalmentes. Seria o caso de pensar em abolir o caráter vitalício do cargo de ministro do STF. Um mandato fixo de oito ou dez anos me pareceria equânime. Chegado ao termo desse período, o magistrado poderia candidatar-se a novo mandato. Acredito que, assim, as labaredas da fogueira de vaidades em que se exibem Suas Excelências perderiam muito de sua intensidade.
 Epílogo
Epílogo
Sem chegar a sugerir que ministros do STF venham a ser eleitos pelo voto popular, acredito que deveriam ser escolhidos por um colégio eleitoral ampliado, que incluísse o presidente da República, membros da alta magistratura, representantes da OAB e outros cidadãos de elevada cultura e reputação imaculada. Não custa sonhar.
 Nota
Nota
Entre os onze ministros atuais, há dois ou três com direito a permanecer no cargo por mais um quarto de século a contar de agora. É um exagero. Muita coisa muda em 25 anos. Manter um indivíduo na mesma função pública, intocável e inamovível, durante tanto tempo pode ser prejudicial para a sociedade.