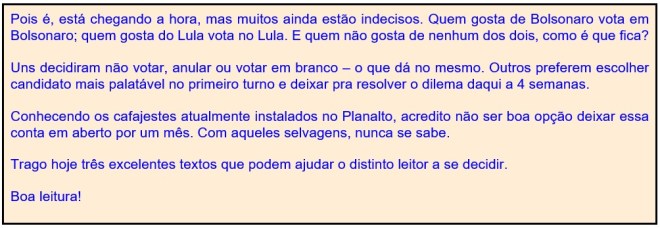Myrthes Suplicy Vieira (*)
Depende, senhor presidente. Se o “problema” em questão que presumivelmente poderia ser causado por essa tal “gente” que caminha em sua direção numa estrada deserta for uma ameaça de estupro e a mulher em questão for feia, o risco será mínimo para ela, segundo o senhor mesmo fez questão de ressaltar em outra ocasião.
Se for uma mulher bonita e conseguir sair viva da situação ilustrada, as duas ferramentas sugeridas mais do que provavelmente serão de pouca ou nenhuma valia. Antes de mais nada, é preciso dizer que elas são tão comparáveis em termos de eficácia para combater a violência contra a mulher quanto um nécessaire e uma jaca. A arma pode falhar, como aconteceu recentemente no atentado contra Cristina Kirchner. O indivíduo (ou os indivíduos, não restou claro) pode tomar a arma da mão da mulher, imobilizá-la e deixa-la ainda mais vulnerável, como o senhor mesmo contou que lhe aconteceu durante um assalto no passado. O tiro pode não atingir o potencial agressor ou só atingi-lo de raspão e deixa-lo ainda mais furioso e violento.
Já para “sacar” a lei Maria da Penha, seria preciso que a mulher vítima de uma tentativa de estupro, assalto ou assassinato se dirigisse a uma delegacia de polícia (ou a uma delegacia da mulher, caso houvesse uma na região), esperar o horário de abertura na manhã do dia seguinte e contar com a boa vontade do policial de plantão para registrar um boletim de ocorrência. Antes, porém, ela certamente teria de passar por um detalhado interrogatório, no qual lhe seria perguntado, dentre outras coisas: O que você fazia àquela hora numa estrada deserta? Como estava vestida? Havia bebido ou consumido drogas? Deu causa de alguma forma para o ataque ou o facilitou, seja não resistindo à aproximação do agressor e abrindo a porta do carro, seja sorrindo para ele e pedindo ajuda para trocar o pneu?
Para piorar, poderia acontecer de o delegado de plantão se recusar a registrar a ocorrência, alegando não ter havido nenhuma lesão física digna de nota, como aconteceu recentemente com uma senhora negra, esquálida e frágil, de 51 anos de idade, que teve seu pescoço (ou parte de cima das costas, como pretende o advogado de defesa) pisado por um brutamontes policial de mais de 80 quilos. Depois de recorrer a um advogado para ter seus direitos respeitados, essa mulher, no máximo, voltaria para casa com um papel na mão e esperaria sentada por meses ou anos até que o agressor (de quem ela desconhece a identidade, diga-se de passagem) a atacasse novamente ou fosse preso pela prática do mesmo ou de outros delitos. Se e quando isso acontecesse, a vítima poderia então entrar com um pedido de medida protetiva na justiça. Mesmo assim, se o agressor desrespeitasse a exigência de afastamento, só restaria a ela registrar um segundo boletim de ocorrência – e assim sucessivamente até a data de seu velório.
Outro dado relevante que precisaria ser levado em consideração para fazer uma escolha sensata e bem-informada do melhor jeito de reagir numa situação como a aventada diz respeito à sua suposição de que a “gente” que vem em sua direção “pode lhe causar problema”. Não ficou claro em sua douta exposição, senhor presidente, a partir de quais evidências essa impressão se concretizou: tratava-se de uma pessoal mal-encarada, segundo os critérios policiais? Talvez tivesse um olhar frio, vidrado, desses de quem consome drogas? A forma como estava vestido? Estava em atitude suspeita, atrás de um poste ou escondido embaixo de um viaduto? Portava algum objeto ameaçador nas mãos? São muitas as hipóteses e poucas sustentáveis a priori. Poderia ser, convenhamos, um simples transeunte ocasional, um morador da área, alguém voltando do trabalho e, quem sabe, até mesmo uma pessoa de boa vontade, querendo ajudar.
Digo isto porque já me aconteceu de ter o pneu estourado num cruzamento da Avenida Santo Amaro numa noite chuvosa, ter sido abordada por um cidadão – negro, veja só – que, sorridente, se aproximou da minha janela e se prontificou a me tirar daquela aflição, empurrando o carro e trocando o pneu em poucos minutos, sem nem mesmo esperar por gratificação. Tsc, tsc, tsc. Está claro que o senhor precisa conhecer melhor o “seu povo”, presidente, não apoiar suas convicções somente em seus fanáticos apoiadores mas também na gente simples e solidária que habita invisivelmente esta terra.
Além disso, capitão, não é nem preciso dizer que o [mau] hábito de atirar antes de perguntar, que está implícito na sua sugestão, deveria ser combatido e não incentivado. Esse é o traço mais distintivo da polícia militar brasileira desde sempre, usado com especial ênfase no período pós-ditadura. As manchetes sanguinolentas relativas aos constantes entreveros nos morros do Rio de Janeiro e na periferia de todas as demais capitais, com um número espantoso de vítimas colaterais, crianças e adolescentes desarmados, estão aí para quem quiser confirmar.
A defesa do excludente de ilicitude que tanto o anima está assentada exatamente nessa pressuposição de que há cidadãos de primeira categoria, honrados e cônscios de seu papel social, os militares e os PMs, e outros cidadãos de quinta categoria, os civis não pertencentes à elite branca heterossexual, que devem obediência irrestrita ao arbítrio das “otoridades” de plantão. Será que essa mentalidade já foi absorvida também pelos atuais detentores de posse e porte de armas, contaminando até mesmo aqueles que se dizem cristãos? Falando nisso: curiosamente, não lhe ocorreu sugerir que o melhor seria “entregar nas mãos de Deus” a solução do problema. Já que o senhor estava num templo evangélico, circundado exclusivamente por mulheres, seria de bom alvitre reforçar a tese de que o Altíssimo o ajudará a cuidar da segurança pública em um eventual segundo mandato seu, já que teria sido Ele a indicá-lo para o cargo presidencial ‘against all odds’.
Pensando em tudo isso, sinto dizer, senhor presidente, que, como de costume, seu pretenso argumento de apreço pela defesa da mulher foi miseravelmente infeliz. Ou melhor, como tudo que sai de sua boca, não passou de mais um ato falho para sua coleção de disparates. No seu inconsciente, onde pululam os vermes comedores de cérebro da “ideologia de gênero”, não deve haver espaço mesmo para indicar outras medidas civilizatórias, como melhor iluminação pública, serviço de assistência 24 horas nas estradas acessível online, carros de polícia circulando à noite por locais afastados do centro, etc. Acima de tudo, não lhe ocorreu a única medida realmente eficaz, já testada em diversos outros países com sucesso: a educação sexual nas escolas para meninos e meninas desde a primeira infância. Complementada preferencialmente por acesso universal a serviços de saúde mental para os transgressores.
Saiba que a única mensagem transparente – e auditável – que o restante da população recebeu foi a de que as mulheres brasileiras – sejam elas ou não portadoras de vaginas, como diz elegantemente seu filho 03 –, não podem se sentir seguras em lugar nenhum deste país, nem dentro nem fora de casa.
Segure suas cabras que meu bode vai sair para pastar…
(*) Myrthes Suplicy Vieira é psicóloga, escritora e tradutora.