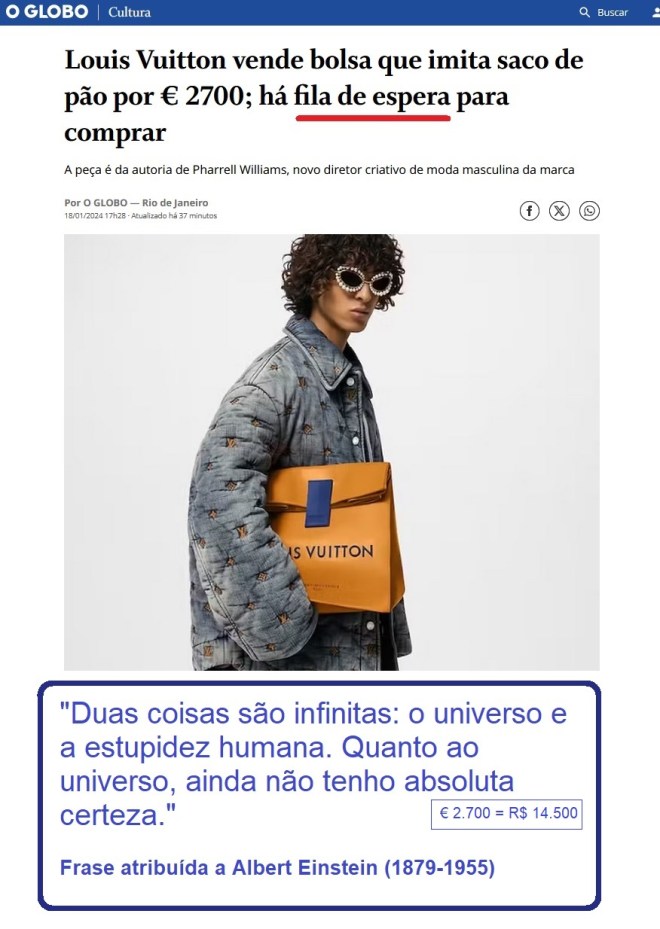Wilson Gomes (*)
Wilson Gomes (*)
Censo do IBGE
A particularidade do censo do IBGE é que ele não apenas fornece dados, mas os apresenta orientados por teorias e embalados na ideologia dos analistas que trabalham nele.
Segundo as estatísticas geradas, 45,3% dos brasileiros se declaram como uma mistura de duas ou mais opções de cor ou raça, escolhendo entre branca, preta, parda e indígena, conforme o manual do instituto. Quem assim se identifica é pardo. Alvíssaras, o IBGE descobriu o óbvio, o Brasil é um país mestiço.
Como há um dogma dos militantes atribuído ao IBGE que reza que pardos não passam de uma subdivisão de negros, celebrou-se então a superioridade numérica dos negros nesse país. Mas apenas 10,2% se definem como negros.
É que, embora as pessoas tenham o direito de se identificar como desejarem, inclusive tendo a opção de adotar como critério de escolha a cor ou a raça, jornalistas e militantes se concedem o privilégio de ignorar tal autoidentificação e reclassificá-las conforme seus próprios critérios: pretos e pardos são espécies de negros, ponto final.
Ora, se os pardos se considerassem negros, escolheriam a identificação como pretos, como é óbvio supor. Da mesma forma, caso se vissem como brancos, optariam por essa categoria. Mas não o fizeram, assumem-se como mestiços.
Ocorre que no Brasil a escolha da categoria de cor ou raça deve ser considerada séria demais para se permitir que as pessoas decidam o que são por conta própria. A sociologia militante se concede o poder de decidir em lugar dos cidadãos, inclusive desconsiderando suas próprias percepções. Mas o tratamento é exclusividade dos pardos, claro.
A militância
Os militantes da causa negra não demoraram a ressaltar como anos de trabalho árduo dos movimentos resultaram no aumento do número dos autoidentificados como pretos e pardos no Brasil.
Embora isso possa ser verdade, esperemos algum crédito do fenômeno ao fato de que as pessoas vêm se miscigenando no país há mais de 500 anos, bem antes que movimentos negros marchassem com faixas declarando que “miscigenação é genocídio” ou inundassem as redes com denúncias de “palmitagem” de quem se envolveu com pessoas de outra cor.
O cardinalato dos influenciadores que reivindicam falar em nome de todos os negros não iria perder a oportunidade de pontificar sobre o assunto. “É uma vitória termos um Brasil que se reconhece como negro”, afirmou-se. Para depois rematar-se com: “Nunca é demais lembrar que pardos e pretos compõem a população negra do Brasil”.
Pelo visto, ignora-se o fato de que “o Brasil” se reconheceu majoritariamente como pardo, não como negro, branco ou indígena. Nem deveria ser demais lembrar que pardo é alguém que se reconhece mestiço, misturado, miscigenado, não como componente de qualquer outra população, a não ser a brasileira.
Impressionante como a matriz indígena foi esquecida, como se ela não fizesse pardos.
Ora, ocorre o contrário. O norte do Brasil é pardo, a Amazônia é parda. Os dez municipios com maior percentual de pardos estão entre o Amazonas, o Pará e o Maranhão. Como o colégio cardinalício identitário decidiu que todos os pardos são compulsoriamente negros, a origem indígena do Brasil pardo foi apagada.
O pior é que nem isso é para valer. Parafraseando o verso do Rigoletto de Verdi, “il pardo è mobile, qual piuma al vento”. Conforme a conveniência do cardinalato identitário e dos movimentos negros, movem-se os pardos para lá ou para cá.
Nos momentos de fazer volume, pardos são da população negra. Na hora das cotas em concursos ou de dividir cargos, chama-se a polícia racial, ou “comissões de heteroidentificação”, para tirar os pardos.
A autoidentificação dos pardos é desconsiderada; o que não se ignora é a premissa que há sempre um pardo querendo desfrutar de reparação que é só devida aos pretos. Pardos são úteis nos numeradores para se calcular as compensações, mas um estorvo depois do cálculo feito.
Flávio Dino
Vejam Flávio Dino. Alguém tem mais a cara do Brasil do que um caboclo miscigenado do Maranhão, justo onde a Amazônia e o Nordeste se encontram num abraço gostoso?
Pardo, no jargão do IBGE, ou moreno, mulato ou caboclo na língua real do país, Dino tem a cor e a manha da nossa gente.
No Brasil brasileiro, Dino é caboclo inzoneiro, exceto para as autoridades identitárias, que prantearam a sua indicação ao STF alegando que o cargo era para uma pessoa negra. Quando há privilégios e recompensas, pardos não são negros, nem sequer Flávio Dino.
 (*) Escritor e professor da UFBA (Universidade Federal da Bahia).
(*) Escritor e professor da UFBA (Universidade Federal da Bahia).
Artigo publicado na Folha de S. Paulo.