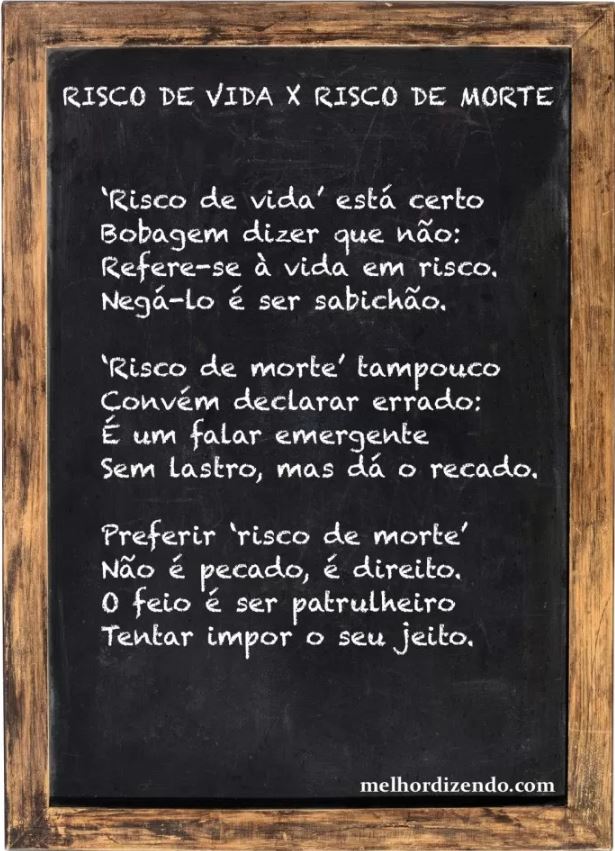Você deve se lembrar que, algum tempo atrás, uma diligente brigada do ‘Exército de Perenização do Iletrismo’ encasquetou que a escrita de Machado de Assis era de padrão por demais elevado e sofisticado, e que, portanto, era urgente reescrevê-la à atenção dos brasileiros do século XXI.
De fato, vítimas da contínua deterioração do aprendizado da língua pátria, os brasileirinhos de hoje não alcançam mais o nível necessário para ler – e entender! – os livros de nosso escritor maior.
Para esses beneméritos vigilantes, a solução mais adequada não é a melhora do ensino, que seria o remédio apontado por qualquer criatura de bom senso. Para o ‘Exército de Perenização do Iletrismo’ a solução é rebaixar o grau de dificuldade da matéria ensinada. Como diz a velha piada, se a febre é muito alta, quebra-se o termômetro. É gesto de efeito mais rápido que aspirina, visto que a febre desaparece na hora.
A impressão que me fica é que a cegueira dos gênios que preconizam lançar a coleção “Machado de Assis adaptado para mal alfabetizados” também é fruto do esgarçamento do aprendizado da arte de raciocinar e entender o mundo.
O ensino pobre da língua não tem sido fenômeno isolado; acompanha-se do rebaixamento do nível de ensino das demais matérias. No final, os alunos se ressentem dessa formação medíocre e têm dificuldade em entender e enfrentar os problemas do mundo.
Quando jovens escolarizados, formados e diplomados sentem dificuldade em entender um texto técnico e não pensam em procurar ajuda num dicionário ou em outro lugar, a boa solução não é empobrecer a linguagem do texto, mas ensinar ao leitor perdido o caminho a seguir.
Faz muitos anos que, seguramente para facilitar a vida do leitor menos esclarecido, certos jornais abandonaram os algarismos romanos e adotaram os números comuns para designar sequências de reis e papas. Assim, foi-se D. João VI; bem-vindo D. João 6°. O papa João XXIII, popularíssimo em seu tempo, no Brasil responde pelo nome João 23. Se, no velho curso primário, algum de nós ousasse escrever assim, perigava levar um coque ou uma reguada de dona Mariazinha.
Suponho que a escola não ensine mais os algarismos romanos. É pena porque, caso o aluninho de hoje leia amanhã uma obra em língua estrangeira, vai empacar nessa numeração que ele desconhece e que, no exterior, não foi abolida.
O Conselho Nacional de Justiça, associado ao STF, anuncia um pacto do Judiciário “pela linguagem simples”. O objetivo é chegar a uma linguagem mais compreensível à população. Que seja enxugada a prolixidade cartorial de certos textos, com repetições a granel, é boa ideia. Mas “linguagem simples”? Abolir expressões latinas do Direito? É ilusão. Termos específicos são indispensáveis em textos jurídicos.
Soluções menos radicais já existem. Passeando pela internet, encontrei diversos glossários de termos jurídicos. Um deles, feito pela Procuradoria da República no Espírito Santo, me pareceu bem completo, com centenas de entradas.
Acho que violentar a obra de Machado de Assis ou rebaixar a qualidade de textos jurídicos é solução de ponta-cabeça. O nivelamento deve ser feito por cima, não por baixo.




 Nota
Nota